Jornalista com percurso ligado à Cultura e à pesquisa histórica, nos últimos anos tem-se dedicado igualmente aos temas do Ambiente.
Obsessão pelo controle: será possível salvar a Natureza através da tecnologia?
Depois de escrever A Sexta Extinção, livro vencedor do prémio Pulitzer em 2014, Elizabeth Kolbert traz Sob um Céu Branco, obra que nos fala da manipulação humana sobre os elementos naturais. A eterna tentação de remendar o irremediável com mais uma invenção.
Elizabeth Kolbert vive nos EUA, é jornalista colaboradora da revista New Yorker, onde assina artigos sobre ciência. Faz o trabalho que muitos repórteres almejam: dedica-se por longas temporadas a um assunto, com todo o tempo necessário para pesquisa, reflexão e escrita.
Quando explora um tema, seja a extinção das rãs-douradas ou os fenómenos de uma zona vulcânica, Elizabeth Kolbert vai. Viaja até onde for preciso para entender a génese histórica e contextual de um tema, entrevista quantas pessoas for necessário e permanece o tempo que for preciso. Apanha barcos para lugares inóspitos, enterra os pés na lama, sobe montanhas e desce crateras, entra nas profundezas das florestas tropicais e passa horas dentro de laboratórios.
Foi assim que já percorreu meio mundo, descrito em grande parte no livro A Sexta Extinção, lançado em 2014. A obra, muito divulgada na altura, trouxe ao leitor comum um tema um pouco confinado à esfera científica. Com um relato jornalístico e uma narrativa que junta o registo de reportagem e o ensaio, apresentou de uma forma acessível as consequências de um processo de extinção das espécies provocado pelo ser humano.
Elizabeth Kolbert não se limita a replicar os números que lê nos relatórios de cientistas, nem a interpretar textos académicos. Ela vai aos sítios e pega no exemplo micro para explicar uma realidade macro. Foi assim em A Sexta Extinção: apresentou a cronologia das várias extinções, ‘ilustradas’ com histórias de animais que há muito desapareceram da face da Terra e descreveu a atual fragmentação de grandes ecossistemas (como a Amazónia ou a Grande Barreira de Coral). E é assim agora com Sob um Céu Branco (Editora Elsinore, 2021).
“Este é um livro sobre pessoas que tentam resolver problemas criados por pessoas que tentavam resolver problemas”, como explica a autora no livro. “Nalguns casos, estamos a experimentar soluções tecnológicas porque não estamos dispostos a agir politicamente”, disse recentemente numa entrevista ao Público.
“Atchafalaya”
A palavra aparece no final do primeiro capítulo e é uma citação de Kolbert de uma obra clássica assinada por John McPhee, The Control of Nature, publicado em 1989. Com ela, o autor queria dizer que Atchafalaya, o nome do rio que percorre uma parte do Louisiana, nos Estados Unidos, no contexto da sua mensagem, era “mais ou menos sinónimo de qualquer luta contra as forças naturais - heróicas ou venais, irrefletidas ou avisadas - em que os seres humanos se auto recrutam para combater a terra, para tomar o que não é deles, para desalojar o inimigo destruidor, para cercar as faldas do Monte Olimpo exigindo e esperando a rendição dos deuses”. McPhee foi um grande defensor da genialidade do Corpo de Engenheiros que há décadas interfere no rio Mississipi.
Na primeira parte do livro Sob um Céu Branco, Elizabeth Kolbert leva-nos numa viagem por alguns rios e lagos dos EUA, com um retrato surpreendente sobre as interferências humanas nas versões mais sofisticadas e megalómanas da engenharia. Uma delas foi a inversão do curso do Rio Chicago depois da construção do Sanitary and Ship Canal, no início de século XX, “o maior projecto de obras públicas do seu tempo”, e, como explica Kolbert, “um exemplo típico que se costumava apelidar, sem ironia, de controlo da natureza.”
Durante sete anos, foram removidos 33 milhões de metros cúbicos de rocha e solo, o suficiente para construir uma ilha com 2,5 quilómetros quadrados e 15 metros de altura. Antes disso, os detritos da cidade de Chicago corriam pelo rio, desaguando no Lago Michigan, na altura, e ainda hoje, a única fonte de água potável da cidade, o que causou vários surtos de tifoide e cólera. Depois da inversão, os dejetos passaram a ir para a direção oposta, para o Rio Des Plaines, daí para o Rio Illinois, para o Mississipi e finalmente para o Golfo do México. A grande obra não só empurrou os detritos para St. Louis, como “virou de cabeça para baixo a hidrologia de aproximadamente dois terços dos Estados Unidos”, conta Elizabeth Kolbert.
Criou também um outro problema, com o qual tem lidar ainda hoje o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, instituição que se tem dedicado às grandes obras deste teor, como o Canal do Panamá, o Canal de São Lourenço, a Barragem de Bonneville ou o Projecto Manhattan (para a construção da bomba atómica na década de 1940). Elizabeth Kolbert visitou o quartel-general desta instituição, em Chicago, para falar com diversas pessoas sobre carpas, espécie asiática que foi parar ao Rio Mississipi.
A ideia inicial desta “importação” era fazer um controle biológico, e usar as carpas para se alimentarem das infestantes aquáticas, espécies que podem obstruir lagos e lagoas. Só que a carpa proliferou mais do que o esperado, e tornou-se ela própria uma invasora, afastando outras espécies. Ao longo dos anos, tornaram-se mais e maiores. Para evitar que entrassem no canal, o Corpo de Engenheiros criou uma barreira elétrica que dá choques e afugentam os peixes para fora dos Grandes Lagos.
Originária da China, a carpa divide-se em quatro espécies, todas elas com características e tamanhos diferentes (uma carpa-do-limo pode chegar a pesar 35 quilos e uma carpa cabeçuda chega aos 45 quilos). Há umas que são conhecidas por saltarem da água quando estão em stress, e atingirem com chicotadas pessoas que estejam em barcos (a própria repórter, numa das suas incursões, levou com um estalo na perna). Na China são consumidas, nos EUA nem por isso. Apesar das campanhas para promover a pesca e o consumo de carpa, acaba por ser um produto com pouco sucesso, nem mesmo para exportar para o mercado chinês, porque preferem comer peixe fresco. A solução para as toneladas de peixe apanhado é habitualmente ser transformado em fertilizante.
O receio da invasão das carpas é tão grande que em 2009, quando o Corpo de Engenheiros desligou a barreira elétrica para manutenção, o Department of Natural Resources do Illinois despejou, “por precaução”, 25 toneladas de veneno. O resultado foram 25 toneladas de peixe morto, entre eles uma carpa - só uma! Foi nessa altura que o Michigan recorreu aos tribunais para tentar separar as bacias hidrográficas dos Grandes Lagos, e assim evitar a invasão daquela espécie. Apesar de muita gente estar a favor desta separação, “refazer o sistema de água e saneamento de Chicago implicaria redirecionar o trânsito fluvial da cidade, redesenhar o sistema de controlo de cheias e modernizar o sistema de tratamento de águas residuais”, conta Kolbert. A campanha acabou por se afundar em entropia.
“Este é um livro sobre pessoas que tentam resolver problemas criados por pessoas que tentavam resolver problemas”, como explica a autora no livro. “Nalguns casos, estamos a experimentar soluções tecnológicas porque não estamos dispostos a agir politicamente”, disse Elizabeth Kolbert.
Noutra ponta do Mississipi, em Nova Orleães, ocorre uma intervenção humana em larga escala que dura há décadas. Aquela cidade, erguida sobre estacas, é uma obra interminável. Como diz Kolbert, “o que as carpas saltadoras são para a área metropolitana de Chicago, os campos submersos são-no para as paróquias em redor de Nova Orleães: a prova de um desastre natural provocado pelo Homem. Foram construídos milhares de diques, de molhes de defesa contra cheias e de muros para domar o Mississipi (...) um vasto sistema, construído para manter seco o sul do Louisiana, é a razão por que a região está a desintegrar-se, a desfazer-se como um sapato velho”. Grande parte desses trabalhos tiveram como mão-de-obra escravos africanos.
No entanto, para os autores desta proeza, o Corpo de Engenheiros, a constante intervenção no rio e o controle de sedimentação são motivo de orgulho. A dada altura, anunciavam: “Domámo-lo, endireitámo-lo, regularizámo-lo, agriolhámo-lo.” A paisagem de Nova Orleães está em constante mutação, e furacões como o Katrina (que inundou a região e matou 1800 pessoas em 2005) ou as cheias como a de 2011 são fenómenos extremos que certamente se irão replicar. Para salvar Nova Orleães, será necessário perpetuar eternamente as intervenções, com grandes custos e grandes riscos. É difícil perceber até que ponto estas mega-operações são pensadas a longo prazo, porque a História tem mostrado que normalmente a duração é curta.
Efeitos do Antropoceno
Não há dúvida que o ser humano é a espécie mais invasora e a que mais se sobrepõe a todas as outras. Hoje em dia, “as pessoas superam em peso os mamíferos selvagens numa proporção de mais de oito para um. Acrescente-se a isto o peso dos nossos animais domesticados - sobretudo vacas e porcos -, e essa proporção sobe de 21 para um (...). Tornámo-nos o maior impulsionador da extinção e também, provavelmente, da especiação”, escreve Kolbert.
Existem duas teorias distintas sobre a altura da História da Humanidade em que começou o Antropoceno. Há quem diga que o ser humano começou a alterar a atmosfera há 8000 ou 9000 anos, quando o trigo começou a ser cultivado, e há quem defenda que a mudança só se deu com a invenção do motor a vapor pelo engenheiro escocês James Watt.
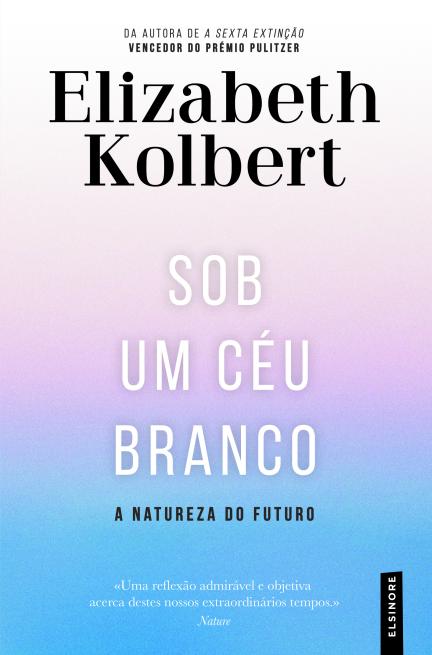
A primeira teoria é chamada de hipótese de Antropoceno precoce, a segunda é a que tem mais apoiantes e aponta como “pedal de arranque” a Revolução Industrial. O certo é que, como explica Elizabeth Kolbert, “em 1776, o ano em que Watt começou a comercializar a sua invenção, o ser humano emitiu cerca de 15 milhões de toneladas de CO2. Por volta de 1800, esse valor tinha aumentado para 30 milhões”. E não parou de aumentar desde aí: “Em 1850, aumentara para 200 milhões de toneladas por ano e, no início do século XX, para quase 2 mil milhões. Hoje em dia, estamos perto dos 40 mil milhões de toneladas por ano. Alterámos a atmosfera de tal maneira que uma em cada três moléculas de CO2 que andam no ar foram aí postas por nós”.
Como se sabe, este tema tem levantado grandes preocupações globais. A COP, cimeira dedicada às alterações climáticas, é o clímax dos debates entre Estados sobre a gravidade da situação. Todos concordam que chegar ao aumento de temperatura de 2 ºC causa uma série de catástrofes e a vida no planeta torna-se insuportável, mas a cada ano em que se fecha uma COP, parece que essa consciencialização não é suficiente para diminuir as emissões de gases com efeito de estufa.
Em vez disso, mais uma vez o ser humano procura soluções na tecnologia e na engenharia para colmatar o efeito que está a provocar. Já há alguns anos que uma dessas soluções é a captação de CO2 da atmosfera, de forma a conseguir inseri-la no solo, convertendo-o em rocha. “Mesmo sem qualquer ajuda, a maior parte do dióxido de carbono que os humanos emitiram iria, mais cedo ou mais tarde, transformar-se em pedra, por meio de um processo natural conhecido como meteorização. Só que ‘mais cedo ou mais tarde’ significa centenas de milhares de anos, e quem é que tem tempo para esperar pela Natureza?”, ironiza a autora.
Como parte do seu método de trabalho, Elizabeth Kolbert foi visitar locais onde se pratica ou estuda esse engenho. Um deles foi na Islândia, território de natureza vulcânica onde se insere o gás através de uma máquina que concentra e fixa o CO2 e depois o injeta no subsolo. Kolbert comprou um serviço a uma empresa suíça que limpa “as emissões de carbono dos subscritores” e passado um ano quis ver o acontecia à sua percentagem. O valor era 1000 dólares por tonelada. “Usei o meu quinhão de cerca de 550 quilogramas numa viagem de ida a Reiquiavique e deixei todas as minhas restantes emissões, incluindo as da viagem de regresso e voo para a Suiça, a flutuar livremente”, conta a repórter.
A empresa que criou este mecanismo está sediada em Zurique. Kolbert foi lá e foi também ao Arizona State University, onde se encontra Klaus Lackner, físico de origem alemã que Elizabeth Kolbert considera o “pai” da invenção das “emissões negativas”.
Em 1990, quando Lackner ainda estava no famoso Los Alamos National Laboratory, local criado nos anos 1940 para investigação da fusão nuclear (e onde se criou a bomba atómica), elaborou com o colega Christopher Wendt a ideia exótica de criar uma máquina chamada auxon. Esta máquina seria alimentada por painéis solares que cobririam uma área de um milhão de quilómetros quadrados, captando todo o CO2 emitido pelos humanos até então, convertendo em rocha que ficaria à superfície e ocuparia uma área da dimensão da Venezuela, com uma camada de 30 centímetros de altura. A ideia ficou por ali, mas não a vontade de transformar CO2 em rocha.
Lackner tem investido o seu tempo e as suas investigações a este tema, que para ele teve altos e baixos em termos de financiamento. Fundou o Negative Carbon Emissions e continua a desenvolver protótipos. Um deles é um aparelho que a jornalista norte-americana observou no local, uma espécie de “sofá-cama” com um emaranhado de fios com contas cor de âmbar, compostas por uma resina normalmente usada no tratamento de águas.
“Seco, o pó absorveria dióxido de carbono. Molhado, libertá-lo-ia”, explica Kolber. “A ideia que subjazia a esta espécie de sofá era expôr as fitas ao ar seco do Arizona e depois dobrá-lo e metê-lo num recipiente cheio de água. O CO2 que fora captado na fase seca seria libertado na fase molhada: podia depois ser canalizado para fora do recipiente e o processo recomeçaria”. Segundo Locker, este equipamento do tamanho de um reboque pode captar 365 toneladas de CO2 por ano, ou seja, com 100 milhões de unidades ficava-se perto de resolver o problema das emissões negativas. Para ele, “o dióxido de carbono devia ser encarado da mesma forma que as águas residuais”, como refere a repórter. Ninguém vai parar de produzir, por isso em vez de culpar os emissores, para Lackner o melhor é usar financiamento para construir e replicar soluções do tamanho de um reboque por esse mundo fora.
Kolbert levanta a questão das emissões de outra forma. São cumulativas, uma vez no ar, é aí que ficam, por isso “cortar a emissões é simultaneamente essencial e insuficiente. Caso conseguíssemos reduzir as emissões para metade (empreendimento que acarretaria a reconstrução de grande parte da infraestrutura mundial), os níveis de CO2 não baixariam; simplesmente deixariam de aumentar tão depressa.” Seja qual for o cenário de aumento de temperatura projectado pelo IPCC (Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas), segundo Lackner, “praticamente todos precisam do toque de magia das emissões negativas.”
Sem o azul do céu
A invenção deste engenheiro, considerado por muitos como um excêntrico, não é a única que nos pode deixar perplexos pela sua dimensão e impacto na Natureza. Aquela que dá título ao livro de Elizabeth Kolbert está a ser desenvolvida pelo Programa de Investigação em Geoengenharia Solar de Harvard, financiado em parte por Bill Gates. Resumindo, o que esta teoria mostra é que “se lançarmos um monte de partículas reflectoras para a estratosfera, a quantidade de luz solar que chegará ao planeta será menor”, explica Kolbert, que se dirigiu ao local para entrevistar Franck Keutsch, um dos cientistas que integram o programa.
A ideia é vista como uma ferramenta de último recurso, caso as emissões não baixem, mas para que ela seja uma realidade a que se tenha de recorrer, terá de estar suficientemente desenvolvida. Para isso, são criadas várias hipóteses de materiais a serem lançados para o espaço estratosférico. Um deles será o diamante, porque não absorve energia nem é reativo. “Mas não podemos esquecer que tudo o que lançarmos lá para cima acabará por vir parar cá baixo”, explicou o cientista a Elizabeth Kolbert. Iríamos inalar partículas minúsculas de diamantes.

Outra hipótese era lançar dióxido de enxofre. Neste caso, estaríamos a imitar o efeito de um vulcão em erupção, que causa posteriormente uma diminuição drástica da temperatura devido às partículas que se instalam na atmosfera. É uma hipótese que não tem muitos adeptos.
Há ainda uma outra, que implica aspergir carbonato de sódio, e esta é a que entusiasma mais Keutsch. O que a torna mais aceitável é o facto do carbonato de sódio estar por todo o lado: nas rochas sedimentares mais comuns, nos recifes de coral, no fundo do oceano, é um elemento a que estamos habituados. Há também quem defenda que o mais seguro é usar aerossóis. Mas tudo isto acarreta mais incógnitas do que certezas, até porque a partir do momento em que se começar esse método de arrefecimento não se pode voltar atrás, nem parar de lançar essas partículas para a estratosfera, porque criaria um aquecimento repentino, uma espécie de abertura do portal do calor retido. Se esta ideia avançar, o céu deixará de ser azul para ser permanentemente branco.
Não é a primeira vez que uma teoria de modificação do clima atmosférico é levantada. No primeiro relatório governamental sobre aquecimento global, entregue ao presidente dos EUA Lyndon Johnson em 1965, já se falava na possibilidade de espalhar partículas refletoras sobre os oceanos. Um desses projetos foi quase concretizado, não fosse o Washington Post ter denunciado o programa. Só na preparação para esse lançamento (que na altura seria com iodeto de prata), o 54º Esquadrão de Reconhecimento Meteorológico realizou 2600 voos.
Na mesma altura, conta Kolbert, um cientista soviético, Mikhail Gorodsky, “recomendou a criação, em redor da Terra, de uma espécie de anilha composta por partículas de potássio, semelhante aos anéis de Saturno.” A apresentação dessa proposta, publicada em inglês pela Peace Publishers, terminava com uma frase em grande: “Novos projetos para a transformação da Natureza serão apresentados todos os anos. Serão mais esplendorosos e emocionantes, pois a imaginação humana, à semelhança do conhecimento humano, não conhece limites”.
É ainda mais assustador imaginar o que passa pela cabeça de quem concentra grande parte da fortuna do planeta (a grande maioria são homens, como Jeff Bezos e Elon Musk), tendo em conta que quase todas as suas ambições envolvem intervir no sistema climático e atmosférico.
Quanto mais se lê sobre tecnologia e engenharia capaz de captar CO2 e transformá-lo seja no que for, mais difícil se torna de acreditar na ética dos grandes emissores. Perante um futuro com tantas soluções, para quê reduzir as emissões? Por outro lado, o pensamento humano começa a afastar cada vez mais o uso das melhores máquinas de captação de dióxido de carbono: os ecossistemas naturais, as árvores, os oceanos e todos ambientes marinhos ou aquáticos. Como é possível destruir algo que faria esse serviço de forma tão eficaz?
Como explica Kolbert logo no início do livro, chegámos a um ponto em que “não é tanto o controle da Natureza, mas antes o controle do controle da Natureza (...) Se o problema é o controle, então, seguindo a lógica do Antropoceno, mais controle deverá ser a solução”. E é esta a lógica que nos leva ao descontrole.



