
Reescrever a história? "É essencial"
Em entrevista ao Setenta e Quatro, os historiadores Paulo M. Dias e Roger Lee de Jesus argumentam ser necessária uma "nova visão sobre o passado de Portugal". E que sem se revisitar e reescrever a história não há avanço científico.
Começaram por falar sobre História, há quase dois anos, num podcast com episódios de pouco menos de meia-hora em que se pode aprender sobre a História de Portugal e do restante mundo, sobre os cercos à cidade de Diu, a presença portuguesa na I Guerra Mundial, a vida da rainha Njinga ou até sobre a falta de rigor científico do livro Factos Escondidos da História de Portugal.
Em maio passado, os historiadores Roger Lee de Jesus e Paulo M. Dias coordenaram e publicaram o livro Atualizar a História. Os dois historiadores, que se propõem a deitar uma “nova visão sobre o passado de Portugal”, foram provocadores com o título, pensado para romper com os ditames editoriais e as dinâmicas dos escaparates. Querem revisitar e reescrever a História, sem que seja necessário, garantem, “derreter as estátuas todas e fazer uma ponte”.
Uma ponte, todavia, foi o que acabaram por construir. “Sentimos que havia espaço para esta divulgação histórica para um público mais geral, de temas que são conhecidos dentro das universidades”, afirma Paulo M. Dias, mestre em História Moderna e investigador do Instituto de Estudos Medievais da NOVA FCSH. Com a noção de não serem os primeiros a fazê-lo, ajudando a reforçar uma tendência que se tem fortalecido nos últimos anos, saltaram do relativo sucesso online para os escaparates das livrarias. O livro, que junta os autores a outros 30 historiadores e se estende cronologicamente de Viriato a Marcello Caetano, já vai na segunda edição.
Dependemos de quem nos lê. Contribui aqui.
Para Roger Lee de Jesus, a produção científica está profundamente desfasada da divulgação que a deveria proceder, representando também um falhanço da academia. “Se formos às grandes livrarias e analisarmos as estantes de divulgação científica reparamos que não há nenhum livro de História”, nota o doutorado em História pela Universidade de Coimbra, especialista em história económica, financeira e da expansão portuguesa na Ásia. Em entrevista ao Setenta e Quatro sublinham a importância de se estar constantemente a repensar o passado, não em jeito revisionista, mas porque só assim avança o conhecimento que dele retiramos.
É necessário atualizar a História? Ela está desatualizada?
Paulo M. Dias: A história está sempre atualizada e desatualizada. Faz parte do processo de escrita, da história da história enquanto ciência social, de estar em permanente evolução. Desde logo, porque há novas descobertas, novas metodologias, porque fazemos perguntas que antes não eram feitas e, portanto, a história está naturalmente sempre em evolução. Claro que aqui não é a história enquanto acontecimento do passado, enquanto acontecimentos que decorreu numa certa data, mas sim enquanto conhecimento histórico.
Aquilo que sabemos sobre esses mesmos acontecimentos, que muitas das vezes será nada mais do que uma pálida imagem do que terá acontecido na verdade, sobretudo quanto mais recuamos. O que é que sabemos, na verdade, sobre a Antiguidade Romana, sobre a Antiguidade Pré-Clássica? São pequenas imagens de pequenos fragmentos do que terá acontecido.
A nossa vontade também passou por ter um título [do livro] um bocadinho provocador. Há a ideia de que reescrever a história tem sempre motivos ideológicos por trás, sejam eles quais forem, o que não era o nosso desejo. Era simplesmente mostrar que reescrever a história toda a gente faz. A não ser que se esteja a papaguear o que já foi escrito, é uma reescrita. Revisitar e reescrever a História é essencial. Se não o fizermos, não há avanço científico.
Também sentimos que havia espaço para esta divulgação, para um público mais geral, de temas que são conhecidos dentro das universidades. Há muitas coisas que não são propriamente novidade e estão neste livro, serão novidade para um público alargado. Outras fazem parte do que é a vanguarda do conhecimento científico, como, por exemplo, o capítulo sobre a resistência aos impérios, da professora Mafalda Soares da Cunha, que resulta de um projeto de investigação científica que ainda decorre.
"Revisitar e reescrever a História é essencial. Se não o fizermos, não há avanço científico", afirmou Paulo M. Dias.
Roger Lee de Jesus: Com a ressalva de não sermos completamente originais. Isto não é uma ideia que caiu do céu. Não fomos os primeiros a fazê-lo, nem seremos os últimos. Aproveitámos o podcast enquanto meio de comunicação, que no campo da História não tinha sido ainda bem aproveitado, e que ainda não o é, e saltámos do podcast para o livro, numa forma mais científica de fazer esta divulgação. Grande parte da divulgação histórica é feita a título individual ou por pessoas que não são da área. A ideia foi mostrar a renovação historiográfica que está a ser constantemente feita, não para vender a ideia de que está tudo errado, mas porque o passado está sempre a mudar e é preciso repensá-lo.
Ao se colocarem no papel de divulgadores de História tanto no podcast como coordenando este livro, crêem que há um desfasamento entre aquilo que é produzido e aquilo que é sabido, ou seja, o que está cristalizado já como a "nossa" história?
RLJ: Esse é o pressuposto do livro. Não tem havido uma grande divulgação do conhecimento que é produzido, por parte da academia, para o grande público. Não fomos os primeiros a fazê-lo, mais uma vez, mas é um contributo para essa divulgação científica. Se formos às grandes livrarias e analisarmos as estantes de divulgação científica reparamos que não há nenhum livro de história. Talvez encontremos livros de história pura e dura, ou coisas de astronomia para o grande público, biologia, tudo e mais alguma coisa. Mas os livros de divulgação científica de história nunca estão nessas estantes. É um contrassenso, porque não deixa de ser divulgação científica, mas revela bem o que a própria sociedade acha da história e de como é que deve ser olhada.
Como faz parte de um património comum, é difícil vê-la como algo que tem os seus próprios especialistas, a sua própria área de desenvolvimento e que deve ser divulgado por quem tem essa formação. Vimos, nos últimos anos, com a pandemia e as vacinas, por exemplo, uma proliferação de pessoas sem qualquer formação e que comentavam esses assuntos com o conhecimento que tinham conseguido na Internet. Nunca ninguém apontou o dedo a quem faz isso no campo da história, e são mais do que muitos.
A academia deixa margem de manobra para que isso seja feito por outras pessoas. Há um desfasamento em relação ao que é produzido e aos próprios debates dentro da academia. Quando, hoje em dia, se fala sobre as questões coloniais, é comum comentar-se erradamente que esses assuntos não são tratados. Há muitos livros de académicos e muitas teses de mestrado ou doutoramento que os tratam. Não é um tema novo na academia. A academia simplesmente falhou, pelos mais diversos motivos, nessa divulgação e, portanto, aquilo que acabou por ser produzido e publicado, de qualidade, acabou por não chegar ao grande público.
E agora estamos nesta situação em que é necessário debatermos questões sérias, fracturantes, em termos dos legados coloniais, por exemplo, e falta um suporte abrangente de informação que em grande medida já foi produzida, mas que é desconhecida.
PMD: Também há um problema transversal na maneira como as coisas são divulgadas, até pelas editoras. Quando olhamos para o mercado anglo-saxónico, vemos que há uma diferença muito clara entre os livros de história académica e os de história evocativa, que são muito diferentes e aos milhares. Cá, basta olhar para as prateleiras das livrarias para vermos Oliveira Marques ao lado de José Gomes Ferreira. Não é assim que as coisas devem funcionar. Sim, o problema também é nosso, dos historiadores e da academia, mas há outras questões de dinâmicas editoriais que nos ultrapassam.
Porque é que há essa tendência editorial, ou até um descaso, em preencher o vazio deixado pela academia com livros sobre os "factos escondidos" e outras produções de quem não tem formação na área e se baseia em teorias e coisas que leu na Internet?
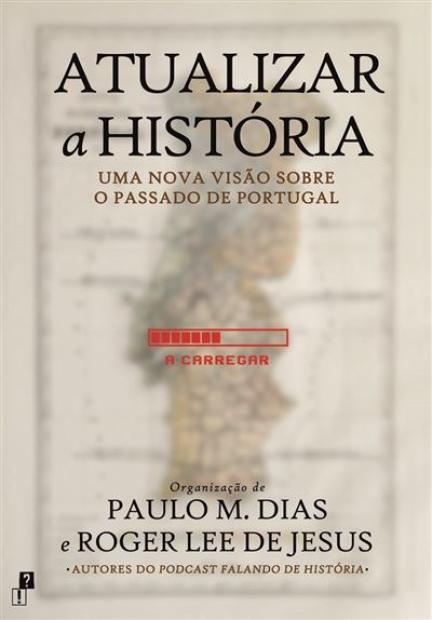
PMD: Deriva de algo mais geral, do estado de constante e imediato sensacionalismo. Tudo tem de ser sensacional, naquele momento ou ninguém presta atenção. Parece-me natural, tendo em conta que também somos bombardeados com informação constantemente. A história eximiu-se disso: "é sensacional, temos de nos afastar". Mas se nós não nos colocamos nessa posição, os vazios são ocupados por pessoas com competências completamente diferentes.
Daí termos escolhido um título provocador. Foi uma forma de tentar ser um bocadinho polémico, mas mantendo o conteúdo científico. Creio que não fazemos isso bem em Portugal. Uma vez mais, agrada-me bastante o mercado inglês e os seus livros com títulos sensacionais mas com conteúdo científico completamente ajustado.
Por outro lado, o "escondido", o "oculto" ou o "secreto" vendem porque ainda vamos vivendo na senda do Dan Brown, não é? Parece que estamos todos à espera de encontrar alguma coisa misteriosa por desígnio, quando simplesmente não há documentação ou vestígios. Com esforço conseguimos manobrar dentro dessas áreas movediças do sensacionalismo, mas é preciso mais investimento, sobretudo da parte dos historiadores. Infelizmente, a academia, durante muito tempo, não foi à luta no campo do mediatismo, até porque este tipo de divulgação histórica conta muito pouco para a valorização das carreiras académicas ou para obter os financiamentos sem o quais vivemos precariamente.
Também gastamos muito nosso tempo livre com o podcast, como gastámos com o livro e, portanto, percebo que seja um trabalho pouco tentador e até ingrato. Felizmente, conseguimos demonstrar que há interesse em fazê-lo. Ainda que puxando a brasa à nossa sardinha, conseguimos motivar algumas pessoas a fazer um bocadinho mais. A nossa colega Ana Miranda criou uma página de Instagram sobre o al-Andalus e o passado Islâmico de Portugal. Já nos perguntaram se deveriam fazer um blogue ou um canal de YouTube, portanto há interesse e vontade. Esperamos ter atirado uma pedra ao charco e que venham mais pessoas para além de nós, porque nós sozinhos nem queremos nem conseguimos.
RLJ: O sensacionalismo e o mistério vendem sempre. Quem vai estudar Arqueologia espera ser o Indiana Jones e depois acaba a raspar calhaus com escovas de dentes. Já não devia haver essa ideia, mas as pessoas gostam do mistério e as editoras aproveitam-se disso. Alguns autores também, porque tudo o que for escondido, nunca antes visto, interessa sempre. É comum aparecerem notícias sobre algo inédito que foi descoberto por acaso e afinal já se conhecia há muito tempo.
"A academia deixa margem de manobra para que isso seja feito por outras pessoas. Há um desfasamento em relação ao que é produzido e aos próprios debates dentro da academia", disse Roger Lee de Jesus
Há no livro um desafiar de várias ideias comuns e estabelecidas no imaginário coletivo sobre figuras como Viriato, D. Teresa ou o infante D. Henrique. Sentiram que poderia ser uma escolha infame?
RLJ: Nesse sentido não, até porque o livro procura precisamente atualizar essas ideias junto do grande público. Sem desvalorizar o trabalho dos diferentes autores, há pouco no livro que seja realmente novidade. O que é dito ali já foi dito noutros sítios, de formas mais extensas, mais exaustivas. Diria que dois ou três capítulos trarão matérias inéditas, porque resultam de projetos de investigação recentes. Muito do que está compilado no livro já é ensinado nas universidades há bastante tempo, mas acaba por não transparecer para fora delas.
Portanto, essas escolhas não foram feitas para serem provocatórias, mas para mostrar como, afinal, nada disto é assim tão novo. E nem recebemos reações assim tão negativas. Estávamos à espera de pior, mas pelos vistos os leitores estavam mais à espera disto do que nós.
PMD: Estávamos à espera de muito pior. Percebemos isso no Twitter, o que é engraçado porque tínhamos a ideia que era um sítio de pouca coisa boa. Afinal, quando começámos a publicar curiosidades e a mandar alguns bitaites, achámos as pessoas muito receptivas. Até nas apresentações do livro fomos reparando que, estando à espera de ter um público relativamente mais novo, havia pessoas de todas as idades. Pessoas que foram educadas durante o Estado Novo e que nos vieram dizer que "realmente o que me tinham ensinado na altura não fazia grande sentido". Temíamos alguma reação mais epidérmica, mais agressiva, mas tem sido muito bom. O objetivo do livro também é pôr as pessoas a discutir, a falar sobre história. Conseguimos isso e estamos muito felizes.
Como é que os diferentes historiadores e historiadoras que convidaram receberam este desafio?
PMD: Aceitaram todos rapidamente, felizmente. Todos manifestaram a perfeita noção da necessidade de mais divulgação, sendo que dentro das universidades se passa uma coisa e fora delas outra completamente diferente. Tivemos a sorte de termos autores como nós, precários — a maior parte, aliás -, a aceitar usar um pouco do seu tempo para fazer isto. Também tivemos alguns historiadores consagrados, como a Mafalda Soares do Cunha, a Paula Pinto Costa ou o Luís Carlos Amaral, que aceitaram também tirar algum tempo das suas carreiras académicas bastante preenchidas, para falar sobre a Ordem do Templo, o Viriato, a D. Teresa e por aí fora. Alguns até já estão a levar a cargo outras tarefas de divulgação, porque se percebeu que há espaço para isso e que também faz parte das nossas funções como historiadores demonstrar que o nosso trabalho é válido, porque se o fizermos só uns para os outros não vale muito a pena.
Veem a possibilidade de este conhecimento mais rigoroso ser transposto para os currículos escolares?
RLJ: Será um processo muito paulatino. Apesar de podermos pegar num manual hoje e vermos o que diz, só vamos ver o real alcance disso daqui a uns dez ou 20 anos, quando virmos o que sair das gerações que estão a ser ensinadas dessa forma.
No que diz respeito aos nossos currículos de História, quer no básico, quer no secundário, tem havido uma progressiva adaptação. Não quer dizer que já esteja feito, bem pelo contrário. Na realidade, há algumas questões que têm sido mais abordadas e outras adicionadas. Poderia haver uma maior integração e isso está estudado. Sociólogos e antropólogos têm visto como é que o colonialismo, por exemplo, é retratado nos manuais escolares, apontando muitos erros e com toda a razão. Essa ponderação deve ser feita, não só através dos manuais, mas pelos próprios professores.
"Estamos nesta situação em que é necessário debatermos questões sérias, fracturantes, em termos dos legados coloniais, e falta um suporte abrangente de informação que em grande medida já foi produzida, mas que é desconhecida", salientou Roger Lee de Jesus.
Há já uma nova geração de professores que se formaram nos últimos cinco, dez anos e que, obviamente, conforme as ferramentas que têm ao seu alcance, têm vindo a aproveitar todo o tipo de materiais para conseguir uma aprendizagem mais completa. Até porque, hoje em dia, já não há propriamente um programa, há noções básicas de aprendizagem que têm de ser abordadas. Ou seja, há uma grande margem de manobra para o professor conseguir ir além do manual, o que era muito mais difícil nos nossos tempos.
Também temos que olhar para a formação que está a ser dada aos professores e, portanto, nas universidades. Esta questão da "liberalização", com todas as aspas possíveis, do ensino da História, em que qualquer pessoa com uma licenciatura poderá dar aulas, também levanta dúvidas não só pelo aspecto pedagógico. Temos de ponderar sobre o que está a ser ensinado nas universidade e de que forma. É um círculo vicioso, porque temos que olhar para a própria sociedade, para os programas de ensino, para a forma como se entende o passado atualmente, para como se entendia ou como se deve entender, sem dogmas, nem visões radicais, a preto e branco. É um trabalho de conjunto que não se resume aos programas curriculares, porque é um facto social total que tem de ser pensado e tratado com essa amplitude.
PMD: Temos um número relativamente grande de ouvintes que são professores de História e que usam os nossos episódios em aulas. Há um esforço de adaptação, porque os miúdos de agora já nasceram num mundo digital. É preciso continuar e expandir esse esforço.
O Roger recupera no livro uma ideia que explica num dos episódios do podcast, dizendo que foram mais os povos do Índico que nos descobriram a nós, no século XVI, do que nós a eles. Precisamos urgentemente de descentrar a história de uma perspetiva nacional para não ignorarmos nada ou corrermos o risco de não chegar às novas gerações de alunos?
RLJ: Há que ter noção que Portugal não é exceção. Em Portugal ensina-se a história de Portugal, em Espanha ensina-se a história de Espanha, e por aí fora. É preciso esse olhar descentrado, porque o quotidiano é cada vez mais global. Só olhar para a Europa ou para o nosso próprio país acaba por revelar muito pouco. Creio que era Alexandre Herculano que dizia que para se fazer história tem que se andar à volta da coluna, para lhe ver todos os lados.
Temos de ter uma visão maior para compreender como é que chegámos aqui, não num sentido catastrófico, mas filosófico, porque se perdeu também a reflexão. A história serve para refletir sobre o passado. Não serve para uma folha de Excel, serve para percebermos a sociedade em que vivemos. E há aquela velha e gasta frase: ajuda a preparar o futuro. São palavras um bocado vãs, mas é verdade. Se no caso de Portugal as histórias são tendencialmente nacionalistas, tal como em qualquer outro lado do mundo, hoje em dia temos cada vez mais essas visões descentradas.
A Europa é importante, o nosso país é importante, com as aspas possíveis, mas o papel não foi inventado aqui. O papel foi inventado na China e veio pela Rota da Seda. A pólvora a mesma coisa. A imprensa, antes de ser inventada na Europa, foi inventada na China. Isto não para falar só da China, mas para mostrar que, na realidade, se olharmos para outros lados, vemos que há outros polos tão ou mais interessantes que este a que estamos habituados.
PMD: O professor [e historiador] Luís Espinha de Silveira frisava a diferença significativa entre história nacional e história nacionalista. O que temos na atualidade são, sobretudo, histórias nacionais. Cada academia está mais centrada sobre o país onde está inserida, o que é perfeitamente normal. Não diria que neste momento o que se faz em Portugal seja necessariamente uma história nacionalista. Há vertentes e continua a haver historiadores que são perfeitos herdeiros do que se fazia no Estado Novo. Há muitas visões do passado que continuam ancoradas no que se fez durante a ditadura. E temos um ressurgir claro de nacionalismos novos, como se viu na Rússia, na Hungria, nos Estados Unidos. Portanto, também acho importante, apesar de tudo, fazer-se essa distinção. A descolonização dos currículos parece-me poder ser feita ao mesmo tempo que a academia portuguesa se foca sobretudo em História portuguesa, como na Gâmbia se focarão na sua história.
O capítulo escrito por Ana Miranda, sobre a matriz islâmica portuguesa, fala sobre uma tendência de se ir buscar figuras islâmicas "pré-portuguesas", um pouco como se fez com o próprio Viriato, e denotar a rebeldia de líderes islâmicos, que viviam em territórios hoje portugueses, como uma virtude. Quais são os limites daquilo que seria a história de Portugal? Deveriam incluir-se figuras como Amílcar Cabral? Quais são, afinal, os "olhos" ou as "lentes" com que devemos olhar para o passado, para lhe fazermos justiça?
PMD: Teoricamente, sim, temos de olhar para o passado tendo em conta o contexto em que as coisas aconteceram, mas acaba por ser sempre impossível fazê-lo totalmente. As perguntas que fazemos hoje em dia não são as mesmas que se faziam há 800 anos. Se queremos saber uma coisa sobre o infante D. Henrique, sobre Viriato, sobre D. Teresa, podemos acabar por fazer perguntas para as quais não temos resposta ou questionar algo que na época não era uma questão. Se estudarmos, através dos estudos de género, no papel histórico da rainha Dona Teresa, de certeza que na época dela não pensariam as coisas da mesma forma, mas isso não quer dizer que não possamos fazer este género de perguntas, porque são relevantes para o nosso conhecimento do passado e são relevantes para o nosso presente.
Em relação à questão das figuras rebeldes, é preciso compreender as coisas no seu contexto, mas também ter em mente que a nossa própria noção de rebeldia não é a mesma da época. As figuras históricas de Amílcar Cabral ou, por exemplo, Geraldo sem Pavor não representam exatamente a mesma coisa. Como é que isto poderá funcionar no futuro? Francamente, não sei.
Uma das razões pelas quais não tenho particular apreço pela história contemporânea é por ser muito próxima. É-me muito difícil julgar as coisas com o distanciamento que acho necessário. Sinto-me confortável com coisas que aconteceram há 800 anos, sobretudo porque já ninguém se melindra muito com o que se passou. Coisas mais recentes, como a Guerra Colonial e a descolonização, temas importantíssimos que têm muito que se lhe diga e muito para se discutir, acho mais complicado porque passou pouco tempo. Em termos históricos, e mesmo em termos humanos, passou pouco tempo.
É importante que se discuta, é importante que se fale sobre isso, mas tenho a impressão que aquilo que estamos a produzir agora, os nossos escritos contemporâneos, serão vistos daqui a 100 anos como fontes primárias e não como historiografia. É esse o ponto em que estamos, porque nós, apesar de termos nascido depois do 25 de Abril, somos ainda muitíssimo influenciados pelo pré- e pelo pós-. Somos ainda muito próximos do acontecimento.
Agora, isso não quer dizer que o que se faz não tenha validade científica. Não é isso que estou a dizer. As coisas serão vistas com outros olhos, como é natural e acontece sempre. Não olhamos agora para as Guerras Napoleónicas como D. João VI olhava para elas. Será assim também no futuro.
"O sensacionalismo e o mistério vendem sempre. Quem vai estudar Arqueologia espera ser o Indiana Jones e depois acaba a raspar calhaus com escovas de dentes", realçou Roger Lee de Jesus.
RLJ: Os olhos com que temos que olhar para o passado são os nossos. Parece redundante e que não estou a dizer nada. As sociedades atuais devem olhar para o passado como acharem mais relevante. Claro que hoje em dia estamos convictos que temos uma visão mais total, mais global, porque temos outras ferramentas, maior acesso às fontes. Isso não quer dizer que, daqui a 50 anos, as perguntas não sejam outras, os pontos de vista não sejam outros. Serão com certeza. O nosso livro é um contributo para repensar a história de Portugal. Se daqui a dez ou 20 anos mostrarem que estávamos errados, é assim que funciona a história. É assim que tem que funcionar o debate académico e que este tem de se refletir na sociedade.
Em relação a figuras históricas mais recentes, como no caso da questão colonial, só agora estamos a começar a ter, na minha opinião, algum distanciamento suficiente para debater as questões da própria memória colonial. Nesse sentido, tem de ser feito trabalho de campo, porque muitos dos atores ainda estão vivos, mas só daqui a algum tempo poderá haver distanciamento. Não desvalorizamos quem o faz, porque existe a história do tempo presente e é uma área válida, tal como qualquer outra, mas esta é a nossa posição enquanto historiadores.
PMD: No passado, como agora, não há pensamentos únicos. Quando debatemos a escravatura costumamos ouvir que "na altura era aceitável". Não por toda a gente. Se pensarmos, por exemplo, como refiro no capítulo sobre D. Henrique, que este intervém no comércio de pessoas escravizadas e depois há uma tentativa bastante clara de Gomes Eanes de Zurara de tentar desculpá-lo, notando que ele cristianizou essas pessoas escravizadas, claramente porque a escravatura não era completamente consensual. Ou se pensarmos, mais tarde, na Escola da Paz em Salamanca, ou na defesa dos indígenas americanos pelo Pe. António Vieira. Há correntes de pensamento. As pessoas divergem e discutem. Sempre foi assim e sempre será.
O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu e pediu desculpa pelo massacre de Wiriamu, em Moçambique, feito pelos portugueses em 1972. Considerando que a nossa identidade nacional também se construiu através de uma História de construção imperial, como devemos incluir essas histórias — mais uma vez, descentradas — na "nossa" história? É o caminho certo?
RLJ: Sim. Isso é um trabalho histórico importante e que está a ser feito. A questão é se isso chega ou não ao público, refletindo-se na sociedade. Por causa do falecimento da rainha Isabel II têm-se discutido largamente os legados coloniais. Se muitos têm falado nela positivamente como uma personagem central do século XX, muitos outros também têm apontado o seu papel no colonialismo do Império Britânico. Temos de conseguir ter uma visão múltipla sobre o passado. Ao mesmo tempo que Isabel teve um papel estabilizador da monarquia, também foi quem acabou por ver "ruir" o Império Britânico, transformando-se numa commonwealth.
PMD: Os britânicos souberam desmantelar o império, formalmente. E fizeram uma coisa muito habilidosa ao tornar os heróis de resistência contra o Império Britânico em símbolos da própria Commonwealth. Não é por acaso que [uma estátua de] Gandhi está à frente do parlamento britânico. Não é por acaso que [uma estátua de] Mandela está à frente do parlamento britânico, apesar do papel que desempenhou o governo de Margareth Thatcher na manutenção do apartheid na África do Sul. É o próprio Estado britânico a admitir os rebeldes contra o império como parte da commonwealth dos povos.
Agora, não sei se aconteceria em Portugal, com figuras como Amílcar Cabral, essa manobra de tentar transformar rebeldes inimigos em algo que afinal era positivo. Devíamos refletir sobre as formas curiosas como os países lidam com estas memórias. Qual seria a reação, em Portugal, se colocássemos uma estátua de Amílcar Cabral, por exemplo, à frente do Parlamento português? Não sei se seria a mesma dos britânicos com Gandhi e Mandela.
"Faz parte das nossas funções como historiadores demonstrar que o nosso trabalho é válido, porque se o fizermos só uns para os outros não vale muito a pena", referiu Paulo M. Dias.
Uma das formas de se olhar para o passado passa também pela economia, uma das áreas de especialização do Roger. Como e porque é que se mede o PIB do tempo do D. João I? Que tipo de conclusões históricas é que isso pode trazer?
RLJ: É algo que já tem décadas de estudo. Há várias formas de se reconstituir o PIB e isso tem a sua aplicação. Uma das formas mais simples de o fazer, e como foi feito para o caso português, é através de cabazes de compra. Estabelece-se o que comporia um cabaz de subsistência para uma pessoa e calculam-se os valores desses produtos na longa duração. O exercício é interessante e pode ter várias leituras. Pode ser até desvirtuado face ao seu intuito inicial. Os dados em si, do ponto de vista económico, são muito úteis, mas depois de termos um gráfico é preciso saber olhar para ele. O debate científico sobre o PIB ao longo da história é sério, baseado em metodologia séria. Mesmo assim tem as suas limitações metodológicas. A recriação do PIB foi feita para o Portugal metropolitano, portanto nem sequer contou com as ilhas. É a partir dos cabazes de compra, ou seja, no que diz respeito à população metropolitana tem de se acreditar que o império acaba por beneficiar o português comum, o que seria sentido nos cabazes que são calculados.
Isso também pode ser debatível: não há um trickle-down de ouro do Brasil desde os fidalgos até ao fulano que acaba por comprar um quilo de pão em Lamego, em 1749. E a história económica vai muito além do olhar-se para uma folha de Excel ou para um gráfico. Também diz respeito à história do pensamento económico, à história monetária, à história financeira. Olhar pelo prisma do PIB é olhar para muito pouco de um todo. Depois o debate público acaba por ser captado e usado do ponto de vista político. E isso é uma pena. Mas é o que pode acontecer com a história.
Devemos ter também um debate sobre como a história nos é apresentada no espaço público? Que atualização histórica se pode dar, por exemplo, ao Padrão dos Descobrimentos ou à estátua do Pe. António Vieira, que tem pouco mais de cinco anos?
PMD: Desde logo, a utilização do espaço público na atualidade não é a mesma que se fazia há 40 ou 50 anos. Será que faz sentido ter estátuas aos Descobrimentos, com conteúdo claramente apologético? Portanto, estátuas feitas durante o período de Estado Novo, ou até da monarquia constitucional, com uma apologia clara do império? Será que isso faz sentido no espaço público do século XXI? Será que isso faz sentido sem qualquer tipo de contextualização?
"A descolonização dos currículos [escolares] parece-me poder ser feita ao mesmo tempo que a academia portuguesa se foca sobretudo em História portuguesa", garantiu Paulo M. Dias.
O que dizemos muitas vezes é que as estátuas em si podem não ser o problema, desde que devidamente contextualizadas. Ou seja, se a estátua tiver uma placa a explicar, "feita em tal período tal, com tal objetivo", isso ajuda imenso à compreensão. No limite, as estátuas podem ser colocadas em museus. Ninguém está a defender, de repente, derreter as estátuas todas e fazer uma ponte. Muitas vezes rebaixa-se o debate ao dizer-se: "querem tirar as estátuas do Estado Novo? Também têm que demolir o Hospital de Santa Maria ou a ponte sobre o Tejo?". Não, porque têm funções inerentemente práticas, apesar de também serem obras ideológicas, por mostrarem o avanço tecnológico do Estado Novo.
Não sei se o Padrão dos Descobrimentos serve o mesmo propósito, mas as opções não são só deitar abaixo ou deixar quieto. Pode colocar-se num museu, com uma placa. As coisas não são sempre iguais. Os nomes das ruas não são sempre os mesmos. Quantas ruas não mudaram de nome ao longo da história portuguesa? Se pensarmos nos autênticos cemitérios de estátuas que existem na Europa de Leste, será que isso é uma realidade tão diferente da nossa para não termos algo semelhante? Não que esteja a dizer que devíamos ter um cemitério de estátuas, mas há não muito tempo fui ao museu do Palácio Pimenta e no jardim tem uma estátua enorme do Marechal Carmona. A estátua está ali muito melhor do que está numa qualquer rua. Faltava uma placa, sim, mas não está no meio de uma praça. O Padrão dos Descobrimentos não tem o mesmo significado que a estátua de D. João I na Praça da Figueira, apesar de serem praticamente contemporâneos. Tem de haver um debate público, com substância, para percebermos exatamente do que estamos a falar.
RLJ: E isso pode até levar-nos a um ciclo de novos monumentos. Podemos, com as novas leituras que temos hoje sobre o passado de então, fazer novas estátuas e novos percursos. Têm sido organizados roteiros históricos pelo passado colonial de Lisboa ou pela história das populações africanas na cidade, e são excelentes complementos para substituir esse tipo de discurso.
Está para ser feito há não sei quantos anos o monumento no Campo das Cebolas que relembra os campos de plantação de cana de açúcar. O que está a travar o projeto? Mas, tal como esse, que foi através do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa, poderiam ser feitos muitos outros monumentos que representam aquilo que em 2022 a cidade pensa sobre o seu próprio passado. Infelizmente, a estátua do Pe. António Vieira também representa o que as pessoas que a mandaram fazer pensam sobre o passado. E voltamos àquilo que já temos falado: o que falta é reflexão, debate.
PMD: Aguardo uma estátua ao PIB.
Há uma maior noção social de que a história não ser estanque, de não estar escrita na pedra?
RLJ: Basta ir às caixas de comentários dos jornais para ver que as pessoas dizem que "o passado já foi", "não dá para mudar". Realmente, ninguém lá esteve, se estivermos a falar de há séculos. Ninguém sabe ao certo como as coisas se passaram. A história é uma reconstrução do que nós achamos que foi passado. Isto já há mais de 100 anos que era dito nas universidades alemãs, muito fortes do ponto de vista do debate historiográfico, no final do século XIX. Se hoje em dia continuamos a achar que o passado é a história, que não dá para mudar, que isso são só invenções "woke" ou o que lhe quiserem chamar, isso mostra que algo falhou nessa transmissão, mas o passado não é estático. O passado não muda, o problema é que nós não sabemos o que foi o passado. A visão que nós temos sobre o passado é que muda — e muda constantemente — e precisamos de ter essa noção bem próxima.



