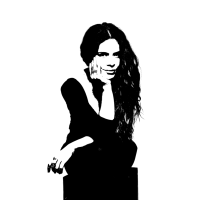Ana Luísa Amaral: "Já que vou ter de abandonar este lugar, gostava que os meus poemas ficassem"
Uma das vozes mais celebradas da poesia portuguesa e também um nome essencial nos estudos feministas portugueses, Ana Luísa Amaral faleceu aos 66 anos. Voltamos a 2008, à Faculdade de Letras do Porto, onde a poeta conversou com a atriz Teresa Coutinho, que partilhou esta entrevista com o Setenta e Quatro.
É grande a dificuldade de falar, neste momento, sobre a Ana Luísa Amaral, embora me apeteça dedicar-lhe, desde sábado, todos os poemas e todas as cartas. A saudade é já muita e se da poeta, da tradutora, da professora, da mulher de luta e de causas muito se pode dizer, é naturalmente da pessoa e da amiga que apetece falar.
Quando alguém se confunde, na nossa vida, com o início do espanto, da paixão pela poesia e pela palavra, quando alguém se nos afigura tão estruturante e fundamental, qualquer tentativa nos parece pequena, ínfima ao pé da verdade, da força da sua presença; ainda que a constante revisitação do que se viveu atrase, em nós, o confronto com o silêncio esmagador da ausência.
Vasculhei na minha gaveta uma entrevista que fiz à Ana Luísa Amaral, em 2008, andava eu em jornalismo, cheia de ganas de abandonar o curso e ir estudar teatro. Esta é uma das memórias felizes que guardo desse tempo: a generosidade da Ana Luísa, numa pausa para almoço, em me conceder esta entrevista. No café da Faculdade de Letras do Porto, um gravador enorme entre nós - à antiga, como a cena merecia - e eu de olhos marejados. A sua sensibilidade, o seu ser poético despertavam-me, já então, para a vida.
Dependemos de quem nos lê. Contribui aqui.
As minhas perguntas padecem da ingenuidade própria da idade, mas até isso, com as suas respostas, a Ana Luísa conseguiu elevar.
Aqui fica a revisitação.
As suas palavras falarão sempre melhor por Ela.
Que papel tem a infância na sua vida, o “tempo das regras decoradas e das terminações verbais” em que “sonhava de livro aberto”?
Eu acho que a infância tem, ainda, um papel preponderante na minha vida. Parece-me impossível alguém criar e ter aquilo a que se chama um “espírito adulto”. E o que quero eu dizer com isto? Que continuo a comover-me com gestos insignificantes. Noutro dia dei por mim a chorar com a Toy Story, e não vejo as pessoas da minha idade a comoverem-se com o mesmo.
Era William Blake que dizia “to see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour". E eu penso que ele constrói toda uma poesia que elogia a figura da criança, justamente porque, como dirá outro romântico “A Criança é o pai do Homem”. Embora ligeiramente machista, significa que a criança sabe mais do que o Homem. A infância tem para mim, esse encanto e esse lado nostálgico, representando também uma forma de estar na vida. Não quer dizer que eu seja infantil, no sentido da infantilização do termo, mas traduzindo-se antes num olhar disponível, aberto e inocente sobre as coisas. Eu sou aberta a tudo, como uma criança.
Tive a ousadia de me apropriar de parte do seu poema Coisas de Luz Antigas, onde diz “A vida resvalante como gelo/ E aquele namorado de nome bom e férias/ ficou perdido em luz / mais de vinte anos.” E eu pergunto, o que é que lhe provoca nostalgia?
Os irmãos que eu não tive. Uma família grande que eu não tive. Normalmente, a nostalgia é construída sobre aquilo que se teve e se deixou de ter. Eu tenho muito a nostalgia do que não tive e gostaria de ter. Elaboro muito sobre um universo ficcionado na minha cabeça e, portanto, perfeito.
Eu escrevo poesia porque preciso de escrever poesia.
Assim, as instâncias de nostalgia que eu tenho são relativamente a esse universo. Eu tenho um poema que se chama Natal a fingir branco, que refere mais ou menos isso, “a nostalgia de doer”, ou seja, o Natal que não se teve. Há poucas coisas reais que me provoquem nostalgia. Não tenho grandes penas na vida, que me façam dizer “gostava muito de viver outra vez aquele momento”. Acho que cada tempo é um tempo. Esse “namorado de nome bom em férias” existiu, é verdade, mas trata-se, acima de tudo, de uma construção poética. Tenho nostalgia da construção poética e da vivência em torno dela, do namorado não.
Sei que escreve desde muito nova. Teve, desde cedo, um quarto próprio para o fazer como aconselhava Virginia Woolf?
Não. Pode parecer estranho, sendo eu filha única e tendo vivido sempre com os meus pais, pertencendo eles à média alta burguesia, mas só o tive a partir dos 14 anos.
No entanto, quando Virginia Woolf refere o tal “quarto que seja seu”, não se refere apenas ao quarto físico, mas também ao psicológico e esse tive-o e continuo a tê-lo. É-me muito fácil estar no meio de 40 pessoas e arranjar “um quarto” para mim onde consiga escrever.
Escrever poesia é prazer ou sofrimento? Acontece de forma ensaiada ou é tomada de assalto a meio da noite?
Acho que a poesia é as duas coisas, prazer e sofrimento. Em vez de lhe chamar sofrimento, chamar-lhe-ia antes angústia. Angústia da palavra que não sai, dos desenhos que acompanham a criação dos poemas e representam a palavra que se quer dizer, mas não se consegue. Embora tenha essa angústia, ela é atravessada por um imenso prazer. Não é por masoquismo que escrevo poesia, nem porque me traga compensações. Eu escrevo poesia porque preciso de escrever poesia.
E é pensada? Faz esboços dos poemas? Ou é assaltada pela inspiração?
Depende. As duas coisas são possíveis. Geralmente não é pensada. O primeiro poema do meu livro Imagens não foi pensado, mas, posteriormente, achei que seria interessante contar uma história. Sendo o meu livro mais biográfico, acabou por se tornar também o meu livro mais cifrado. A parte da ideia, da escrita, não é pensada, porque eu não a controlo. É o poema que me controla a mim. A fase seguinte, de trabalhar e de o passar para o computador ou para a máquina de escrever é mais mecânica.
Há um poema lindíssimo de Emily Dickinson que traduzi e que diz “Shall I take thee, the Poet said to the propounded word? “, em que a poeta vê uma série de palavras à sua frente que se declaram, e escolhe a que pretende. Finalmente, quando escolhe aquela palavra, há outra que surge sem ser chamada. E essa é a inspiração, que entra de forma desviada, “pelas traseiras”, como um ladrão.
Luíza Neto Jorge dizia que “o poeta é um animal longo desde a infância”. O que é para si o poeta?
Se calhar começava com o poema, em vez do poeta. Eu tenho um poema que publiquei que diz “Todo o poema é sobre aquele que sobre ele escreve.” E eu sempre pensei assim, mesmo na altura em que se achava que a poesia era só oficina. A poesia não é só oficina. Eu dou teoria literária e há 30 anos que ensino poesia, e é precisamente o lado que escapa à oficina que permanece um mistério que eu não consigo desvendar. Preferia não falar em dom, mas em talento. Um talento que nasce com quem escreve e que pode ou não ser exercitado.

Não se aprende, portanto, a escrever?
Não. Não se aprende a escrever. Aprende-se a desenvolver a sensibilidade, aprende-se a tradição, que é fundamental. Aprender a ler outros poetas e essa leitura pode ser absolutamente fascinante, devastadora, “exhilarating” como se diz em inglês. Pode ser algo que nos inspira, mas não se aprende a fazer um poema. Lembro-me de ter três anos e meio e ouvir uma quadra e saber que faltava ali qualquer coisa. E essa “qualquer coisa” era uma sílaba a mais ou a menos.
Nunca precisei de contar pelos dedos para saber o que é um decassílabo, sem que eu soubesse ainda a designação dessa palavra. No entanto, sabia que “amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente” era a perfeição. Lembro-me que o primeiro contacto que tive com Camões foi numa papelaria que havia ao pé da minha escola, em que Camões aparece com um olho tapado e, por baixo, aparecia precisamente esse verso, e eu perguntava-me como é que alguma coisa pode arder sem ser vista. Trata-se do espanto, do maravilhamento. E isso não se ensina.
Mais uma vez, parti de parte do poema Testamento, do seu livro Minha Senhora de Quê, onde diz: “Vou partir de avião/ E o medo das alturas misturado comigo/ Faz-me tomar calmantes/ E ter sonhos confusos.” Tem medo de morrer?
Muito medo de morrer. Tenho pavor de morrer.
Como é que encara a morte?
Pessimamente. Acho que é uma coisa injustíssima, horrível e não devia acontecer nunca. Acho que é um disparate aquele discurso recorrente sobre quão terrível seria se fossemos imortais e continuássemos a envelhecer. Eu não me importava. Preferia estar “caquética”, desde que estivesse viva. Tenho as minhas dúvidas sobre se há ou não outro nível de consciência, gostava que houvesse, seria maravilhoso. Mas eu queria era este nível de consciência. Se reencarnar não me lembro deste sítio onde estive e, mesmo sofrendo imenso, é maravilhoso estar aqui.
Shakespeare dizia que escrevia para ser imortal. A Ana Luísa escreve com o mesmo propósito?
Não. E o que Shakespeare diz é “So long lives this and this gives life to thee”, ou seja, “tu viverás através dos meus poemas, mesmo quando eu morrer, mesmo quando tu morreres”.
Há um lado meu que pensa assim, já que esta brincadeira vai acabar. Dickinson diz, num poema dirigido a Deus, “In thy long paradise of light, no moment will there be, when I shall long for earthly play and mortal company” [No teu longo paraíso de luz, não haverá momento em que eu deseje brincar na terra e companhia mortal].
Claro que a homofonia e homografia entre “long” e “long”, “longo” e “saudades”, empresta uma ironia ao poema que significa que, na verdade, a poeta vai ter saudades disto, deste lugar, porque o resto, “o longo paraíso de luz”, é uma chatice. Já que eu vou ter de abandonar este lugar, todos nós temos, obviamente que gostava muito que os meus poemas ficassem. Mas só o tempo pode dar o valor às coisas. É sempre muito perigoso falarmos do que está hoje a acontecer, dizermos que “este poeta que acaba de surgir é maravilhoso”, porque não temos essa perceção.
A Ana Luísa não sabe se os seus poemas vão ficar?
Não sei, não faço ideia. É um sonho que tenho.
Quais são os poemas que ficam?
Essa pergunta leva-nos para uma conversa complicada sobre a própria questão da Arte e dos mecanismos de legitimação da Arte. Como é que se fazem os mecanismos da legitimação da Arte? Obviamente que tem de passar sempre pela crítica, mas é necessário que passe também pelas pessoas.
Perguntava-me como é que alguma coisa pode arder sem ser vista. Trata-se do espanto, do maravilhamento. E isso não se ensina.
As pessoas que não são especialistas e que amam o poema pelo poema, a quem o poema diz porque diz e que nem sequer têm uma metalinguagem para teorizar sobre o poema, porque não precisam de ter. Por alguma razão, a primeira edição da poesia de Dickinson teve um sucesso estrondoso, mesmo tratando-se de uma poeta tão difícil de ler. Mas alguém que diz que “o amor é tudo o que há” e que o define assim, obviamente que toca as pessoas. Quem é que não conhece “Senhora, partem tam tristes os meus olhos por vós, meu bem”? As pessoas não sabem que o autor é João Roiz Castel-Branco, não sabem que pertence ao cancioneiro geral, mas também não interessa, porque o poema diz-nos tanto, comunica tanto, que é isso que vale a pena. E aí chegamos ao ponto fundamental. A arte é comunicação. Ninguém escreve para a gaveta. O público pode ser um, um amigo, um irmão, um tio, mas sendo um, já é um publico.
Um pintor tem necessidade de mostrar aquilo que faz, um músico tem necessidade de ser ouvido. E essa troca faz-se com as pessoas “normais”, da rua, que muitas vezes podem não perceber o poema, no seu sentido académico, mas são tocadas por um verso. Noutro dia, fui fazer uma leitura de poemas e uma senhora veio ter comigo e disse-me: “Não imagina, isto fez por mim o que dois anos de antidepressivos não fizeram.” E eu acho que isso é que interessa. Não é agora o crítico xis ou ípsilon vir elaborar uma grande teoria sobre o poema. Porque é que nos fica, dos Lusíadas, o episódio de Inês de Castro? Porque é um episódio universal, sobre o amor, a tristeza, o sofrimento e a injustiça. É simultaneamente um episódio poético e político e, portanto, humano. O que vai ficar é o humano.
Trocava mesmo toda a poesia que fez por viver outra vez?
Não. É mentira (risos). Eu compus o livro a que pertence esse poema, quando tinha sido operada e fui obrigada a ficar um mês de cama. Mandei os poemas por e-mail a Mª Irene Ramalho, que foi a pessoa que me incentivou, aos 32 anos, a publicar o meu primeiro livro. Esse poema começa precisamente assim: “Trocava a poesia toda que fiz por viver outra vez, é essa ao que parece a minha freudiana fantasia” e a Mª Irene Ramalho fez vários comentários a todos os poemas e, sobre esse, disse “Não trocavas nada, mentirosa”. E é verdade. É um desabafo poético que fica bem num momento de lirismo, mas depois de saber o que sei hoje, não trocava.
Ana Luísa, Senhora de Quê?
Senhora de nada. Nem de mim. E por isso mesmo, mais livre.
Entrevista originalmente publicado no Jornal Universitário do Porto, em dezembro de 2008.