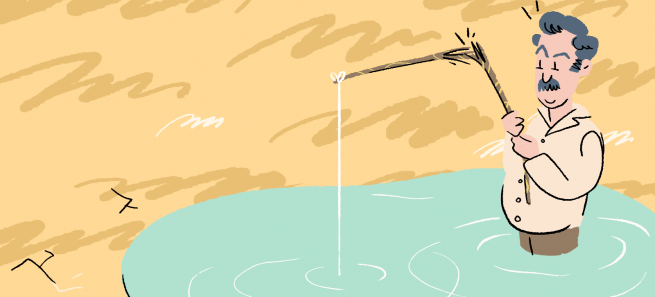Doutorando em História Contemporânea na FCSH-UNL e tem desenvolvido trabalho em torno de temas como desindustrialização e memória operária.
Um novo ciclo de lutas ou reconfiguração neoliberal?
No mundo pós-pandémico têm aparecido alguns fenómenos difusos de resistência trabalhista que podem abrir as portas a algo novo, por entre tentativas de readaptação neoliberais. Ainda que a energia da reprodução capitalista possa superar estes atos de recusa, não os podemos subestimar.
Os primeiros meses da pandemia foram um terreno fértil no que diz respeito à especulação em torno de cenários pós-pandémicos. Para além do hashtag #vaificartudobem – um chavão repetido até à náusea durante o primeiro confinamento –, rapidamente foram surgindo narrativas que anunciavam um potencial mundo novo.
Esse mundo estaria assente num renovado espírito solidário, na valorização de serviços essenciais como a saúde, na sociabilidade dos “loucos anos 20” e na recuperação de poder por parte dos trabalhadores – remetendo para o que sucedera na Europa após a Peste Negra.
Nos dias que correm, qualquer um destes cenários parece andar entre uma crença excessivamente otimista e uma tremenda ingenuidade. Se é certo que vários países estão a tentar reabrir e normalizar as suas economias, o mundo pós-pandémico não só não parece estar ao virar da esquina como parece estar a desenvolver-se uma aceleração das diferentes contradições do capitalismo.
DEPENDEMOS DE QUEM NOS LÊ. CONTRIBUI AQUI.
Tal traduz-se numa crise dos preços da energia, das cadeias de distribuição e do mercado de trabalho que têm levado ao aumento da inflação e ao receio relativamente a cenários de estagflação.
Como refere Sergio Bologna: “A crise iminente contém algo novo, algo que nunca vimos antes na história do capitalismo”. É neste contexto que as classes dominantes se desdobram em eventos que tentam captar essa novidade e tornar a catástrofe numa questão de gestão no interior do sistema – como seria de esperar de eventos como a COP26 ou a Web Summit.
No entanto, também se têm revelado fenómenos de aparente resistência difusa no mundo do trabalho – como a Great Resignation nos Estados Unidos da América e o movimento Lying Flat na China – que podem abrir as portas a algo novo nesta tentativa de readaptação por parte do capitalismo.
Será com estas formas de resistência difusa que me parece valer a pena perder algum tempo. Não para afirmar que já se encontram no caminho de um novo ciclo de lutas, mas sim para as explorar enquanto hipótese política.
Para tal, é necessário contextualizar o surgimento destes movimentos e avaliar os caminhos entre as estratégias de captura neoliberal – sobretudo a partir da reflexão no campo da gestão de recursos humanos – e as potencialidades de um retorno da recusa do trabalho.
No fundo, pedindo emprestada uma expressão que é cara à tradição althusseriana, pretende-se estimular não apenas uma descrição da conjuntura, mas, sobretudo, iniciar um pensamento dentro da conjuntura, que tente captar as possibilidades e os limites desta tendência.
“Os trabalhadores têm razão ao pensar que a bola está do seu lado”
A progressiva reabertura das principais economias mundiais parecia sugerir uma normalização e até um efeito positivo no mercado de trabalho, resultando na reabsorção da imensa mão-de-obra que perdeu o emprego ao longo dos sucessivos confinamentos. No entanto, o momento parece ser bastante mais complexo.
Longe de um retorno à normalidade, os empregadores têm sentido enormes dificuldades em encontrar mão-de-obra disponível para regressar ao trabalho nos mesmos termos em que o fariam no período pré-COVID.
Cansados da estagnação nos salários e direitos, de trabalhos sem significado e da crescente precariedade – mesmo após este ano e meio de pandemia – os trabalhadores parecem ter percebido que, como refere Adam Seth Litwin, professor de relações industriais e laborais na Cornell University: “têm razão ao pensar que a bola está do seu lado (…) e precisam de dar uma grande dentada na maçã neste momento”.
Tal tem-se feito sentir um pouco por todo o mundo: dados recentes recolhidos pela OCDE mostram que nos 38 estados-membro estão cerca de 20 milhões de pessoas a menos no mercado de trabalho do que no período pré-COVID.
Os EUA são, neste momento, um terreno fértil de conflito social, onde se juntam formas passivas e individuais de recusa de trabalho sem condições e formas organizadas e tradicionais de luta laboral.
Destes 20 milhões há 14 milhões que abandonaram o mercado de trabalho e são classificados como “não trabalhadores” ou “não estando à procura de trabalho”, sendo que, comparando com 2019, mais 3 milhões de jovens se encontram numa situação de não trabalho, estudo ou formação.
O caso português não foge a esta realidade, como nos tem sido mostrado pelas constantes notícias que abordam a falta de mão-de-obra em sectores como a restauração, hotelaria ou construção civil.
No sector da hotelaria veja-se a falta de vergonha na divulgação de interesse em trabalhadores oriundos de Cabo Verde e Filipinas, sem explorar de forma séria as condições de trabalho nesse sector. No turismo, destacam-se as declarações de responsáveis políticos, como a secretária de Estado de Turismo na última edição da Web Summit, que segue a narrativa do desafio e de uma boa oportunidade para tomar medidas inteligentes.
Contudo, tem sido nos EUA e na China que estes movimentos têm conquistado a dimensão de fenómeno. Denominado The Great Resignation, os EUA têm assistido a um movimento de demissões em massa e de rejeição de procura de emprego, apesar da crescente oferta.
Segundo os dados do U.S. Bureau of Labor Statistics, as demissões têm mantido registos históricos, sendo que em agosto haviam sido contabilizadas 4,3 milhões de demissões, o que representa 2,9% de toda a força de trabalho.
A par destes dados, é ainda de salientar aquilo que foi denominado Striketober: centenas de milhares de trabalhadores entraram em greve em diversos sectores da economia norte-americana, superando os valores de greves em 2020 e dando início àquilo que parece uma greve geral não oficial.
Entre os vários eventos podemos encontrar a greve na Deere and Co. – que envolveu 10.000 trabalhadores e terminou no passado dia 17 com uma vitória dos trabalhadores –, ou a greve na Kellogg Co., que certamente será recordada pela fotografia do trabalhador no piquete de greve durante um período de chuva torrencial.
São ainda de salientar outras mobilizações, como a greve de fome dos taxistas em Nova Iorque, os protestos dos trabalhadores da McDonald’s contra o assédio sexual, a luta dos trabalhadores da Amazon, em Staten Island, pelo direito a constituir um sindicato, a greve dos mineiros no Estado do Alabama e a greve dos enfermeiros na Califórnia.
Não será abusivo dizer que os EUA são, neste momento, um terreno fértil de conflito social, onde se juntam não só formas passivas e individuais de recusa de trabalhos sem condições, mas também formas organizadas e tradicionais que aproveitam o momento para tentar alterar uma relação de forças que tem sido bastante desigual nas últimas décadas.
Esta dinâmica de conflito ganha ainda maior relevância se tivermos em conta a tentativa de retoma económica sob a liderança de Joe Biden, que se apresenta com um programa que ambiciona ser o equivalente ao New Deal.
Formas de resistência individual, como o movimento "Lying Flat", são uma resposta ao processo de transformação da economia chinesa. E por isso também são alvo de censura e controlo, com o governo chinês a ver-se obrigado a criar campanhas de mobilização para o aumento da produtividade.
No que à China diz respeito, os dados e a noção do impacto desta resistência são bastante mais diminutos. No entanto, importa referir o surgimento de um movimento semelhante denominado “Lying Flat”.
Este fenómeno começou a ganhar alguma notoriedade a partir de abril deste ano com o surgimento de uma publicação partilhada no motor de busca chinês Baidu por um jovem trabalhador chamado Luo Huazhong, onde este rejeita de forma clara a competitividade desenfreada que caracteriza a vida dos jovens trabalhadores chineses:
“Não trabalho há dois anos, apenas ando por aí e não vejo nada de errado com isso. A pressão vem principalmente de comparações com os teus colegas e os valores da geração mais velha. Essas pressões continuam a surgir. . . Mas, não temos que obedecer a essas (normas). Posso viver como Diógenes e dormir dentro de um balde de madeira, a curtir o sol. Posso viver como Heráclito numa caverna, a pensar no “logos”. Como esta terra nunca teve uma escola de pensamento que sustentasse a subjetividade humana, posso desenvolver uma por conta própria. Deitar é meu movimento filosófico. Somente deitado os humanos podem tornar-se a medida de todas as coisas”.
Esta tornou-se rapidamente viral, sobretudo entre jovens trabalhadores da indústria digital, transformando-se num movimento difuso que pretende romper com a perspetiva produtivista assente na “cultura 996” - horário laboral das 9h da manhã às 9h da noite, durante seis dias da semana.
Para além dos relatos que vão surgindo nas redes sociais, a mensagem política tem também ganho alcance através de diversos memes que fazem referência à importância de estar parado e descansar – um deles mostrando um homem recostado com a frase: “Queres que eu me levante? Isso não é possível nesta vida”.
Os conflitos socias sempre foram atravessados por comportamentos de resistência em que os operários se furtavam ao cansaço e ao trabalho e se dedicavam à preguiça e à boémia possíveis, contrariando quer a gestão do capital, quer a gestão do movimento sindical.
Importa referir que estas formas de resistência individual – sem contar com as mais tradicionais, que também são uma parte importante na realidade chinesa – não são particularmente novas e podem ser vistas como resposta ao processo de transformação do modelo económico chinês.
A este respeito importa recordar a difusão do termo “Diaosi”. Num contexto de rápido crescimento económico, e em que o país, sob a liderança de Deng Xiaoping, assumia que alguns deviam poder enriquecer antes de outros, o termo “Diaosi” tornou-se um termo geral para descrever uma geração deixada para trás por esse mesmo crescimento, tornando-se uma bandeira para alguns sectores da geração X que cresceram no período de transição entre os anos 80 e 90.
Apesar das suas inevitáveis diferenças em relação ao caso americano – sobretudo no que diz respeito à margem para o conflito aberto que existe em ambos os contextos –, o movimento “Lying Flat”, enquanto símbolo de fuga à ideologia produtivista promovida pelo Partido Comunista Chinês, pode revelar-se um problema num momento em que a economia chinesa está a alterar o seu modelo económico de “Produzido na China” para “Inovação na China”.
Não é assim de estranhar que o termo esteja a ser banido das redes sociais e tenham surgido não só campanhas de mobilização acerca da necessidade de manter a produtividade, como o próprio secretário-geral Xi Jinping já o tenha apontado como um problema a resolver, a par da involução social.
Em jeito de síntese, podemos perceber que o modelo de exploração atual – não só na dimensão física, mas também intelectual e emocional – parece ter atingido um determinado limite neste ano e meio de pandemia. Longe de significar o fim desse mesmo modelo, a situação parece traduzir-se numa transição cujo destino ainda parece em aberto e que importa compreender em maior detalhe.
Entre a Recusa do Trabalho e a Hipótese Gestionária
As formas de resistência difusa e individual não são estranhas ao movimento operário. Ainda que o principal objeto de reflexão costume ser as vitórias e derrotas do movimento operário organizado, o conflito social sempre foi atravessado por aquilo que a tradição operaista – corrente marxista italiana - chama de “organização invisível”: uma multiplicidade de comportamentos de resistência operária em que estes se furtavam ao cansaço e ao trabalho, contrariando quer a gestão do capital, quer a gestão do movimento sindical.
Desta feita, como refere João Bernardo no seu Economia dos Conflitos Sociais, as formas de organização individual, como a preguiça – recorde-se o clássico panfleto de Paul Lafargue, O Direito à Preguiça –, o absenteísmo, o alcoolismo, o uso de entorpecentes – em suma, todos os modos práticos de reduzir o tempo de trabalho despendido sem para isso entrar em conflito aberto com o patronato –, sempre foram parte importante do repertório da classe trabalhadora.
Um inquérito feito pela Microsoft a mais de 30 mil trabalhadores de 31 países mostra que 41% consideram mudar de trabalho, alegando sintomas de burnout, medo pela sua segurança pessoal, insatisfação e alteração de prioridades.
Como mostra o mesmo autor: “mesmo nos momentos em que mais aparente é a calma social e em que o capitalismo proclama o fim dos conflitos (…) são ainda as lutas sociais a condição subjacente de todo esse processo que permite a sua absorção. As lutas de classes são o elemento motor permanente e fundamental porque é em função delas que se define a estratégia da mais-valia relativa, cuja consequência é a de absorver os efeitos da luta”.
Não se trata aqui de um funcionalismo, em que o conflito se reduz a uma dinamização permanente do sistema capitalista, mas sim num processo complexo e aberto – como tem sido proposto pelos diferentes grupos herdeiros do operaismo – que pode ser compreendido a partir do processo composição, recomposição e decomposição de classe.
Pegando na excelente síntese de César Altamira: “o processo de constituição da composição de classe está estreitamente ligado ao regime de acumulação vigente (…); a sua decomposição relaciona-se com a reação capitalista; quanto à posterior recomposição política, deve ser entendida a partir de respostas operárias às mudanças tecnológicas e à divisão de trabalho”.
Num contexto em que o “capitalismo não esteve em quarentena”, mas sim a aproveitar a pandemia para tentar relançar a acumulação e aproveitar o momento de crise, importa então questionar até que ponto estes movimentos difusos de negação das condições de trabalho e o ressurgimento do movimento sindical – ainda que bastante fragilizado -, podem representar uma nova capacidade conflitual que conduza a uma recomposição política dos trabalhadores.
É que ainda que estejamos perante números surpreendentes no que diz respeito ao fenómeno da Great Resignation (o caso chinês será certamente mais difícil de analisar no que toca ao seu potencial), e que o número de greves e conflitos laborais nos EUA estejam a retomar o tempo perdido durante os sucessivos confinamentos, ainda não é tão claro que estejamos perante movimentos capazes de desequilibrar a relação de forças até aqui existente. Pelo contrário, parece existir o sério risco de serem cooptados pelo neoliberalismo.
Olhemos para alguns números que nos permitem ter uma ideia acerca do engajamento e das reivindicações dos trabalhadores. Segundo um inquérito realizado pelo Linkedin, 74% dos participantes dizem que o tempo passado em casa fez com que repensassem a sua condição laboral.
Para além deste inquérito, também um outro realizado pela Microsoft a mais de 30 mil trabalhadores de 31 países mostra que 41% consideram mudar de trabalho, alegando sintomas de burnout, medo pela sua segurança pessoal, insatisfação e alteração de prioridades.
A uma nova ofensiva por parte do capitalismo, a esquerda institucional não tem conseguido ir muito mais longe do que apresentar uma gestão progressista da catástrofe em que nos encontramos.
Já o relatório produzido pela Gallup mostra que o engajamento dos trabalhadores anda à volta dos 20% (com uma ligeira subida para 34% nos EUA e no Canadá). Importa ainda salientar o crescimento da relevância dada ao trabalho remoto e a uma maior flexibilidade no espaço de trabalho, alternado entre o presencial e teletrabalho.
Ainda que estejamos perante uma consciência e vontade de mudança no que toca à organização do trabalho, na recusa das más condições de trabalho, da precariedade e riscos para a saúde, o facto de uma parte relevante das reivindicações se poderem traduzir em maior flexibilidade e adoção alargada do teletrabalho coloca-nos uma questão-chave lançada pelo PassaPalavra: “Estarão os trabalhadores não apenas a renunciar ao trabalho precarizado e mal remunerado, mas também ao conflito, justamente naqueles espaços onde ele se manifesta mais diretamente”?
Parece-me que a resposta ainda está longe de ser definitiva. No entanto, aquilo a que aqui chamarei de hipótese gestionária parece continuar como hegemónica. Longe de temer a crise existente no mercado de trabalho, o mundo empresarial – algo que é visível sobretudo nas análises produzidas no contexto de gestão de recursos humanos –, tem vindo a olhar para este momento como uma oportunidade não para manter os seus trabalhadores, mas para realizar uma “revolução no trabalho” – veja-se, por exemplo, todos os louvores dedicados ao smartworking logo nos primeiros meses de confinamento.
Numa rápida pesquisa, é fácil encontrar um conjunto diversificado de textos de análise, com propostas e um número sem fim de webinars que ambicionam resumir as lições tiradas desta pandemia, promover uma nova cultura empresarial – focando sobretudo em novas formas de flexibilidade - e aconselhar as empresas na navegação deste processo de reestruturação.
No campo oposto, a capacidade de resposta parece bastante limitada. A uma nova ofensiva por parte do capitalismo, a esquerda institucional não tem conseguido ir muito mais longe do que apresentar uma gestão progressista da catástrofe em que nos encontramos.
Desta feita, como refere Charles Reeve, ainda que a energia da reprodução capitalista possa superar estes atos individuais de recusa – mesmo que massivos e generalizados –, fenómenos como a Great Resignation ou Lying Flat não podem ser subestimados.
Se à esquerda continua a dominar uma visão incapaz de conceber o antagonismo e a rutura, aproveitemos então esta nova fase para avançar com hipóteses que sejam politicamente úteis para o nosso campo. Retomando a proposta de pesquisa feita por Mario Tronti no seu livro Operários e Capital, façamos por compreender como é feita por dentro a classe trabalhadora dos nossos dias, como luta, em que sentido aceita taticamente o sistema e com que formas o recusa estrategicamente.