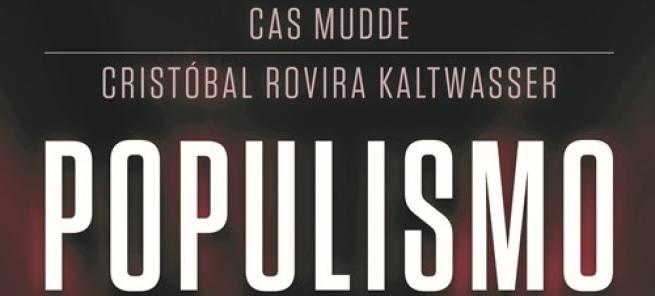Investigador. Doutorado em Antropologia e Mestre em Sociologia pelo ISCTE-IUL. É membro do Centro em Rede de Investigação em Antropologia. Coautor e coordenador de ABC do Socialismo (2019), Caloiros e Doutores (2018), O Espectro dos Populismos (2018), O Estado por Dentro (2017) e Desobedecer à Praxe (2015).
O tempo, as redes e o espetáculo do populismo
Há uma década que a reconfiguração e a expansão de movimentos e partidos de extrema-direita criou um "momento populista" com novos mecanismos de manipulação política. É possível reabilitar a verdade contra os mitos que alimentam o populismo? Como podemos resistir à espetacularização da política?
Este ensaio começou a ser escrito durante a longa ressaca da eleição de Donald Trump nos EUA. Esse acontecimento inaudito e surpreendente mudou a política internacional e fez-nos assistir ao surgimento, à reconfiguração ou à expansão de partidos, movimentos e organizações de extrema-direita, cujo discurso de ódio e violência passou a encontrar uma fonte de legitimação política no mais poderoso país do mundo. Todos os alarmes soaram perante este “momento populista”: ao centro, apelou-se às virtudes da democracia liberal, ocultando a responsabilidade das políticas neoliberais na emergência destes fenómenos; à direita foi-se “desdiabolizando”, normalizando e integrando a extrema-direita sempre que esta surgia como parceiro potencial de acesso ao poder; e à esquerda, depois da derrota grega perante o FMI e as instituições europeias, fez-se notar um difícil impasse estratégico e uma incapacidade de afirmar um projeto de poder alternativo.
Esta foi a origem política deste ensaio onde, para lá do imediatismo, se procurou discutir alguns dos traços sociais, culturais e políticos que estão na origem, ou que fortemente potenciaram, o avanço de diversas forças populistas um pouco por todo o mundo, inclusive em Portugal. Publicado originalmente em 2018, no livro O Espectro dos Populismos (Tinta da China, 2018), este é um ensaio escrito em cima dos acontecimentos, mas cujas reflexões procuraram um tempo de análise mais longo.
Da eleição à derrota de Trump, ganhámos uma consciência mais clara sobre alguns dos mais modernos mecanismos de manipulação política, a natureza da sua ideia de chefia, os conflitos internos nas extremas-direitas, a substância autoritária do seu projeto político e a própria responsabilidade dos media tradicionais. Nos dias que correm, ainda celebramos a derrota de Trump e antecipamos a possível derrota de Bolsonaro, no Brasil, ou de Órban, na Hungria. A esperança segue dentro de momentos? Talvez sim.
DEPENDEMOS DE QUEM NOS LÊ. CONTRIBUI AQUI.
No entanto, para não mergulharmos na ilusão de que este momento populista foi, afinal, um acidente de percurso da democracia liberal e uma fase passageira da vida política, vale a pena voltar a discutir o caldo político, social e cultural em que estas forças emergem e que, em certa medida, pouco se alterou desde 2018. Esse é o intuito do presente ensaio, agora republicado no Setenta e Quatro.
REQUIEM PELO FUTURO?
Estávamos em março de 2017, no Teatro da Politécnica, em Lisboa. Um conjunto de seis jovens atores e atrizes já se encontravam no palco, olhando o público que entrava expectante na sala, para assistir à peça Vocês Que Habitam o Tempo, a partir de um texto de Valère Novarina com o mesmo nome. Encenada por António Guedes, a peça oferecia‑nos um desafio. Sem um enredo estruturado, uma história cronológica ou personagens estáveis, os atores e atrizes propunham que entrássemos num outro lugar: aquele onde a linguagem não é apresentada como instrumento do ser humano para um determinado fim, mas antes como a sua própria matéria, a sua própria potência. Ouvíamos palavras, frases, discursos, sons, independente do seu sentido instrumental.
Uma das figuras representadas, a criança das cinzas, logo no seu primeiro monólogo, apropria‑se desta “linguagem enquanto potência humana”, para nos mostrar que a ideia de tempo, na sua linguagem, não se coaduna com as fronteiras rígidas que marcam o “passado”, o “presente” e o “futuro”. Em vez disso, a personagem mostra‑nos como, para si, “dezasseis são os tempos quando ainda é tempo: o presente longínquo, o futuro avançado, o inativo presente, o desativo passado, o passado posterior, o pior que passado, o jamais possível, o futuro acabado, o passado terminado, o possível anterior, o futuro posterior, o mais que perdido, o mais que perdido, o acabativo, o atentadativo”.
O ambiente social que tem sido fértil para a emergência do populismo é justamente aquele onde foi obliterada a ideia de futuro pelo qual valha a pena lutar.
O tempo aparece aqui como um lugar e um objeto cujas fronteiras a linguagem procura desafiar. Esta ideia fez‑me pensar se também nós, no tempo que vivemos, não sentimos algo semelhante a essa criança de cinzas. Será que habitamos, hoje, uma amálgama de tempos em que a linearidade perdeu o sentido? Vivemos em “passados presentes"? Em “futuros passados”? Num tempo em que o “passado é um país estrangeiro”? Ou será que “o futuro é para sempre”, frase marcada a stencil no muro da FCSH‑UNL e que a antropóloga Paula Godinho usou para título de um livro que analisa as práticas possíveis a partir das quais os seres humanos delineiam futuros em situações mudança?
A perceção do tempo não é linear. Talvez por isso, nos nossos dias, seja mais complexa a conhecida frase de Orwell, segundo a qual, quem controla o passado controla o futuro; quem controla o presente controla o passado. Já não é necessário apenas controlar o passado para controlar o futuro, porque a própria ideia do futuro como campo dos possíveis, do improvável, do que está por construir, foi profundamente corroída quando ruiu também a ideia de progresso, que Oscar Wilde entendia como a realização sucessiva das utopias.
Mesmo a própria ideia de utopia parece hoje mais facilmente substituída pelo que Zygmunt Bauman estampou no seu último livro antes de falecer: a ideia de retrotopia. Isto é, hoje não só os amanhãs já não cantam, como a imaginação do futuro parece bastante menos desejável que a ideia de regresso ao passado.
O futuro é uma imagem de risco mais perturbadora do que Ulrich Beck podia prever quando, em 1992, publicou o seu Sociedade de Risco. Esse imaginário vai ganhando corpo em múltiplos campos. Na teoria social, veja‑se, por exemplo, a leitura feita por Slavoj Žižek em Vivendo no Fim dos Tempos, onde disserta sobre os quatro cavaleiros do apocalipse da humanidade: a crise ecológica; as consequências da revolução biogenética; os desequilíbrios do próprio sistema relacionados, por exemplo, com os problemas de propriedade intelectual ou a luta por matérias‑primas; e o aumento das desigualdades, divisões e exclusões sociais.
Fora da teoria, olhemos, apenas a título de exemplo, para o campo da produção cinematográfica e televisiva, e facilmente percebemos como essas narrativas vão ganhando forma. Veja‑se o sucesso de uma série como Black Mirror que, sob múltiplas formas, ficciona sobre os mais diversos riscos associados ao desenvolvimento tecnológico para a vida social e humana; ou tomemos como exemplo os mais variados filmes — de Matrix (1999) a Children of Men (2006), do The Terminator (1986) ao The Road (2009), passando por filmes de animação como WALL•E (2008) — que nos últimos anos produziram imagens e narrativas sobre o fim do mundo, as ameaças à espécie humana e ao planeta. O futuro ausente colonizou os imaginários ao ponto de, sempre que ligamos o televisor ou vamos ao cinema, como escrevia há uns anos atrás o crítico Fredric Jameson, parecer ser mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
Em certo sentido, a ideologia do fim da história, wishful thinking liberal da década de 1990, colonizou e contaminou os imaginários, as nossas próprias categorias de perceção, sendo nesse terreno que pulsa o atual momento populista. Não há noção de tempo fora das práticas sociais, diria Pierre Bourdieu.
O tempo que habitamos, particularmente depois da catástrofe financeira, económica e social, é um tempo presentificado no qual se torna bastante contraintuitivo pensar no tempo que vem. Os acontecimentos políticos recentes — dos discursos de ódio no Brexit à delinquência na Casa Branca, passando pelos campos de detenção para refugiados criados pelos governos europeus e a sua inconcebível tolerância face a Orbán, Salvini ou Strache — mostram‑nos, até à exaustão, que o sentimento de insegurança, risco, angústia e vigilância tornou o pessimismo da razão, de que falava Gramsci, um sentimento constante, que se instala na perceção do tempo em que vivemos. O pessimismo colonizou e vilipendiou os imaginários. E o capital, como advertia Guy Debord, elevou‑se a um tal nível de concentração, que se tornou uma imagem. Só que hoje é uma imagem de contemplação e inércia perante um mundo inseguro, cujo destino estamos longe de conseguir controlar.
A era da pós‑verdade é um reflexo e uma perceção da existência de uma ampla indústria da mentira e da manipulação. Dum mundo onde a racionalidade sucumbe ao apelo emocional, no qual a distinção entre “verdade” e “mentira” se torna irrelevante.
Na conferência que deu origem a este livro, um dos participantes no debate questionava se a erosão da linearidade do tempo não deveria ser interpretada como algo útil, uma vez que quebraria a velha ideia da história como uma marcha ininterrupta rumo ao progresso. A questão foi interessante, já que a história não é, de facto, uma caminhada de sentido único, sendo marcada por avanços e recuos que dependem da ação coletiva, dos conflitos sociais e das relações de força de cada momento. Nesse sentido, o presente é um lugar onde convivem diversas temporalidades. No entanto, o ambiente social que tem sido fértil e profícuo para a emergência do populismo é justamente aquele onde foi obliterada a ideia de futuro, isto é, a ideia de um imaginário de esperança pelo qual valha a pena lutar.
A primeira tarefa de uma política antipopulista consiste em reerguer uma ideia de futuro como um horizonte e um imaginário em aberto e feito de múltiplas possibilidades. Só é possível uma sociedade transformar o mundo presente se ela conseguir produzir uma imagem de um mundo futuro. Não há luta social sem imaginários coletivos. Nesse sentido, quanto mais as glórias do passado surgem mitificadas, por oposição a um futuro que se receia, maiores se tornam as condições sociais para a emergência do populismo. Reabilitar a ideia de futuro como um imaginário pelo qual valha a pena lutar é o primeiro antídoto para resistir ao populismo.
Na era da pós-verdade?
A incerteza em relação ao futuro não nasce do vazio social e a também ela se pode associar uma quebra na confiança no valor da própria verdade e no suposto caráter verosímil da informação e do conhecimento a que se acede. Não por acaso, foi neste tempo que os Dicionários de Oxford nomearam o termo “pós‑verdade” como o mais importante do ano de 2016. Muitos de nós conhecemos recentemente o termo, embora ele tenha sido pela primeira vez usado em 1992 pelo dramaturgo sérvio‑americano Steve Tesich em The Nation, a propósito do escândalo do Watergate. O diagnóstico de Tesich era duro e direto:
“Estamos a transformar‑nos rapidamente nos protótipos de pessoas pelas quais os monstros totalitários se babam nos seus sonhos. Todos os ditadores até aos nossos dias tiveram de trabalhar muito para suprimirem a verdade. Nós, com as nossas ações, estamos a dizer que isso já não é necessário, que adquirimos um mecanismo espiritual que permite despojar a verdade de qualquer significado. De uma maneira fundamental, nós, como pessoas, decidimos livremente que queremos viver no mundo da pós‑verdade”.

Mais recentemente, em 2004, Ralph Keyes assinou um livro chamado, justamente, Post‑Truth Era, onde aborda a mentira e a estratégia do “ser económico com a verdade” na vida social. A era da pós‑verdade seria, para si, o lugar da banalidade da mentira, mas também aquela onde se esbatem as fronteiras entre verdade e mentira, honestidade e desonestidade, ficção e não‑ficção. Também Eric Alterman, em When Presidents Lie, falava de pós‑verdade para nomear o ambiente político e a presidência de Bush a propósito das mentiras associadas ao 11 de Setembro, detalhadamente construídas e alimentadas por equipas de comunicação e spindoctoring lideradas por Daniel Bartlett e Karl Rove.
Os Dicionários Oxford não inventaram nada. Mas lembraram‑nos de que este conceito dá conta de dinâmicas políticas bem atuais. Sendo extremamente polissémico, isto é, um conceito a que diferentes pessoas atribuem distintos significados, ele parece ganhar relevância nos nossos dias por ser duplamente eficaz. Parece ter uma eficácia política, na medida em que pode ajudar a explicar fenómenos políticos contemporâneos, tais como a inesperada eleição de Donald Trump, a campanha xenófoba que venceu o referendo do Brexit, ou muitas das técnicas de manipulação e propaganda dissimulada, utilizadas pelos mais variados líderes políticos contemporâneos.
Mas tem igualmente uma eficácia simbólica, uma vez que dá conta de um novo imaginário sobre o futuro: a condenação das nossas sociedades a um mundo mediado por uma indústria da invenção e manipulação de factos. Um mundo onde a racionalidade sucumbe ao apelo emocional, no qual a distinção entre “verdade” e “mentira” se torna irrelevante e em que a adesão às ideias se faz pela “paixão” que elas e os seus protagonistas nos suscitam. De que é que a pós‑verdade é nome?
A questão é desde logo complexa, porque a abordagem à história e ao conceito de mentira é particularmente densa, percorrendo autores de tradições e tempos tão distintos como Derrida, Platão, Kant, Santo Agostinho, Rousseau ou Hannah Arendt. Mesmo o conceito de verdade tem uma longa história de debate, quer no que respeita ao que são verdades analíticas, como os enunciados matemáticos, quer no que diz respeito à verdade como conceito para entender o mundo social, ou seja, tal como foi apropriado pelas ciências sociais e humanas das chamadas “ciências exatas”.
A pós‑verdade navega nestas águas, mas parece colocar‑se num território distinto. Longe de debater os conceitos de verdade ou mentira em termos ontológicos ou situados, o que parece novo é o facto de a pós‑verdade dar conta de um sentimento de “agnosticismo metafísico”. Isto é, tal como para um agnóstico a questão da existência de deus é assunto irrelevante, dada a impossibilidade da sua prova, também a pós‑verdade representa uma atitude que torna secundária a questão de saber se a informação a que se acede é verdadeira ou falsa. Toda a informação parece ter de ser relativizada tendo em conta a sua própria origem. Estabelece‑se com a informação uma relação de permanente desconfiança. A era da pós‑verdade é, por isso, um reflexo e uma perceção da existência de uma ampla indústria da mentira e da manipulação. Uma indústria que se sente no ar, todos os dias, mesmo quando é (e muitas vezes é) poderosamente ocultada.
Em Portugal, difundiram-se mitos políticos marcadamente populistas que alimentaram muitas das políticas austeritárias e de controlo social: “baixar os salários é bom para criar emprego”; “o rendimento social de inserção é um estímulo à preguiça”; “os ciganos não se querem integrar”.
Uma política antipopulista na era da pós‑verdade tem de ir para lá da reivindicação do pluralismo político no debate nos media ou da luta pela representação política plural nas instituições. Essa política tem de ser mais ousada e ocupar direta e frontalmente o território da comunicação e da produção de informação.
Não se trata aqui de romantizar o conhecimento científico ou a informação dos órgãos de comunicação social tradicionais. Há décadas que sabemos que esses dois campos são indissociáveis das relações de poder na sociedade. No entanto, uma luta democrática no centro da produção de informação exige que se ensaiem instrumentos concretos para a validação de factos, que permitam o confronto de fontes e que estimulem uma atitude crítica perante a informação disponível.
A multiplicidade de fontes de informação é irreversível. A questão decisiva é saber se conseguimos criar formas de estimular um olhar crítico sobre a informação produzida, que seja capaz de distinguir os factos da propaganda. Um olhar que deve ser construído e enriquecido ao longo do percurso escolar dos mais jovens e que exige um compromisso das várias instituições públicas, da comunicação social, e de várias organizações políticas e cívicas e dos movimentos sociais. Só é possível combater o populismo se tivermos capacidade de contrariar os mitos de que ele se alimenta. Para tal, precisamos de informação rigorosa, mas plural, de olhos críticos sobre o mundo. Ensaiar os instrumentos para essa tarefa tem de ser um objetivo prioritário.
EDITOCRATAS E OPERÁRIOS DE PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS: A DUPLA FACE DO CAMPO MEDIÁTICO
Não partilho do argumento segundo o qual a pós‑verdade está relacionada com um excesso de informação a que as pessoas acedem fora da esfera dos media tradicionais. Multiplicar fontes é uma vantagem, não um problema. Pelo contrário, parece‑me que a pós‑verdade se inscreve justamente na prática de certo tipo de jornalismo, através do qual se afirmou uma classe de comentadores e fazedores de opinião profissionais que monopolizam, em absoluto, os meios de uma economia simbólica de profusão de verdades parciais ou mesmo de mentiras disfarçadas de conhecimento técnico. Em França designou‑se esta classe de comentadores por “editocratas”. O termo foi recentemente retomado por António Guerreiro num artigo precioso — daqueles que já pouco habitam nos jornais —, onde se desenvolve uma crítica ácida a um “género de discurso e a uma forma de configuração do espaço público mediático que se caracterizam pelo triunfo de um modo de entretenimento, quase exclusivamente assegurado pela classe político‑mediática dos intelectuais politólogos e dos políticos anfíbios”. Estes não se distinguem “dos seus pares elevados às cátedras profanas por competência na escrita subalterna, no croché televisivo, no chatting radiofónico, ou nos três ao mesmo tempo”.
Os "editocratas", comentadores e opinadores, têm ideias, teses e "pontos de vista" sobre tudo, sobre todos, a todo o momento. São um exército de comentadores profissionais, mestres da vulgaridade com um arsenal de banalidades.
Os editocratas monopolizam o espaço de opinião e são omnipresentes e omniscientes. Têm ideias, teses e “pontos de vista” sobre tudo, sobre todos, a todo o momento. Tão certo como o sol se levantar todas as manhãs é eles ocuparem todos os canais mediáticos para reproduzirem um arsenal de banalidades. O “jornalismo editorial, curto e conformista”, obcecado com o clickbait, com as audiências e com a concorrência, abandonou o trabalho de investigação de tempo lento, sendo maioritariamente autorreferencial e fechado numa linguagem e num tipo de formulação de problemas em circuito fechado e hermético.
No campo mediático, é impossível não dar conta da divisão, hoje hiperacentuada, entre este exército de comentadores profissionais, brilhantes mestres da vulgaridade, e a realidade concreta da maioria dos jornalistas precarizados. A jornalista e socióloga Diana Andringa, em Funcionários da Verdade, desenvolveu uma investigação científica de referência baseada num trabalho de campo prolongado na RTP, centrado no quotidiano dos profissionais do jornalismo e nas condições e constrangimentos estruturais em que este é exercido.
Recorrendo a observação, entrevistas, questionários e análise de conteúdo de documentos, a sua investigação chega à conclusão de que podemos encontrar uma forte mudança no habitus dos jornalistas da RTP desde a década de 1970. Em primeiro lugar, mudaram as relações profissionais. Se antigamente havia um acompanhamento dos jovens jornalistas pelos profissionais mais antigos e uma prática de debate nas redações, que substituía a ausência de formação académica, hoje em dia, como referem os jornalistas entrevistados, vive‑se uma cultura do “salve‑se quem puder”, em que o jornalismo está “fechado numa bolha”, assistindo‑se a um abandono dos mais jovens pelas estruturas hierárquicas. A individualização das relações de trabalho reflete‑se no trabalho quotidiano e na própria prática jornalística.
Em segundo lugar, transformou‑se o sentido das pressões sobre os media, que hoje se fazem diretamente sobre quem ocupa os cargos na estrutura de direção, influenciando por essa via, isto é, pela via hierárquica, o trabalho feito no “jornalismo de base”.
Por último, houve também uma mudança na autorrepresentação dos próprios jornalistas, na medida em que se passou de um discurso em que o jornalismo tinha um forte sentido coletivo, para uma narrativa em que cada jornalista apenas fala por si próprio.
Estas mudanças não são alheias a uma transformação estrutural no campo mediático, que diz respeito à lógica do investimento publicitário, que alterou os critérios editoriais, influenciando os noticiários e a própria prática dos jornalistas. Além disso, apesar de, segundo o estudo, manterem uma forte referência à responsabilidade social em relação ao seu trabalho, os jornalistas têm ao mesmo tempo pouca autonomia, sentindo‑se, como releva um dos entrevistados, “como operários numa fábrica de produção de notícias”.
Antigamente, nas redações, havia um acompanhamento dos jovens jornalistas pelos profissionais mais experientes e uma prática de debate, que substituía a ausência de formação académica. Hoje, vive-se uma cultura do "salve-se quem puder", em que os jovens jornalistas são abandonados pelas estruturas hierárquicas e a prática jornalística se individualizou.
Nessas fábricas mediáticas mudou também a noção do tempo do trabalho jornalístico e isso teve implicações, uma vez que a exigência de rapidez na preparação de peças noticiosas se reflete numa dificuldade, identificada pelos próprios jornalistas, em obedecer ao que julgam ser a responsabilidade social e deontológica do seu trabalho. É nesse contexto que surgem novos constrangimentos, decorrentes da concorrência e de um mercado de trabalho em que há mais procura do que oferta e em que as modalidades precárias de contratação tornam a relação laboral mais insegura.
Nesta atmosfera, os cidadãos, a quem a informação se dirigia, passaram a ser entendidos como meros consumidores, num ambiente em que a mercantilização da informação influencia a incorporação de valores ligados à pressão empresarial. Só isso explica que uma jornalista, questionada publicamente sobre o porquê de haverem tantos diretos redundantes e desnecessários, tenha referido que essa “é uma forma de [os jornalistas] aumentarem o seu valor no mercado”; “em época de concorrência e precariedade, ser visto é essencial para poder abrir outras oportunidades”.
A política mediática dos editocratas e a mercantilização e precarização da comunicação social tradicional são parte constituinte da atmosfera política em que o populismo prolifera. Como pensar uma intervenção política antipopulista no campo da comunicação? Primeiro, é urgente resgatar o jornalismo como prática crítica, criteriosa, reflexiva e informada, desafiando o monopólio dos editocratas e a manipulação travestida de “conhecimento técnico”. Depois, é necessário dar força social a um movimento que enfrente a mercantilização, empresarialização, mercadorização e precarização do jornalismo. Um movimento que evidentemente deve partir dos próprios jornalistas. Mas se não há democracias decentes sem jornalismo crítico e de qualidade, toda a sociedade tem também de estar convocada para essa tarefa.
REDES SOCIAIS: NOVA IGNORÂNCIA OU PEDRAS NA ENGRENAGEM?
Não há forma de debater o momento populista que vivemos sem falar do papel da Internet e das redes sociais online. Milhões de pessoas estão hoje conectadas virtualmente, a partir de múltiplas plataformas através das quais comunicam, partilham, criam e acedem a informação. Muita tinta tem sido gasta a discutir alguns problemas relacionados com estes espaços. Entre eles, o facto de serem um lugar de profusão de fake news e dos chamados “factos alternativos”; de potenciarem uma deterioração das formas de sociabilidade interpessoais; de reforçarem um ambiente presentificado e acelerado, onde se desaprendem atividades lentas como a leitura; de acentuarem a radicalização e a tribalização, num contexto de anonimato, potenciando fenómenos como o cyberbullying; ou o facto de criarem a cultura do individualismo, em que tudo se centra “no meu Face”, “no meu Instagram”, plataformas online a que se recorre a cada minuto para partilhar fotos e vídeos da vida pública e privada.
Todas estas questões devem ser levadas a sério, porque as redes sociais online, como qualquer outra esfera de sociabilidade, comportam riscos que devem discutidos, antecipados e mitigados. Além disso, o mais recente escândalo Cambridge Analytica é outro exemplo da forma como o espaço público das redes sociais online está profundamente moldado por lógicas mercantis, comerciais e de tráfico de informação pessoal. Lógicas essas a que se acrescentam as tentativas de utilização da informação que circula nas redes sociais como instrumento de manipulação política, um fenómeno que, não sendo novo, adquire novas configurações, próprias do mundo online.

No entanto, a constatação de alguns destes riscos tem também produzido leituras apressadas que associam o uso das redes sociais à emergência de uma “nova ignorância” a que estariam sujeitos os seus utilizadores.
Este é um diagnóstico que está presente em muitas abordagens do fenómeno do populismo, ora de forma mais explícita, ora de maneira mais dissimulada. No caso português, talvez tenha sido o historiador José Pacheco Pereira, nas páginas do Público, quem assinalou, de forma mais séria e clara, “a ascensão da nova ignorância”. Na sua perspetiva, é importante distinguir a nova e a velha ignorância: a primeira, que é de outro tempo, mesmo que ainda se reflita hoje, baseava‑se numa carência de informação e conhecimento, num contexto de elevadas taxas de analfabetismo, de um défice de qualificações muito acentuado, particularmente nos graus mais elevados de ensino, e de uma grande carência de literacia cultural; esta “nova ignorância” seria um fenómeno de tipo novo, não assentando numa carência mas numa ilusão e num excesso de informação a que estariam sujeitos milhares de pessoas que passaram a usar a Internet e as redes sociais para aceder a informação. Entre estas, como se percebe pelas estatísticas, o segmento de população mais vulnerável seria precisamente o dos mais jovens.
Seguindo este argumento, “o grande reservatório do populismo político e social nas sociedades ocidentais são as redes sociais, que, não sendo a causa do populismo, são um seu grande fator de crescimento e consolidação. São como as poças de água estagnada para os mosquitos. Funcionam como o lubrificante do populismo em momentos cruciais, dando‑lhe uma rapidez de resposta aos eventos e condicionando o mundo exterior, com jornalistas que ‘emprenham’ pelas redes, tanto mais quanto já não ouvem ou veem nada fora do seu pequeno ecrã”. Esta leitura sobre o papel das redes sociais é muito popular, mas creio que ela é superficial, por uma grande dose de motivos que vale a pena detalhar.
Na base desta tese reside, desde logo, um preconceito evidente: o de que os utilizadores de redes sociais online estão potencialmente anestesiados, assumindo uma condição de passividade perante a informação a que acedem. São, por isso, permeáveis a todas as estratégias de manipulação e de disseminação da ignorância. Daí muita gente argumentar que seria desejável que estes utilizadores abandonassem a sua condição passiva, ocupando o lugar de cidadãos críticos, informados e literatos, dedicados ao prazer lento da leitura, ao conhecimento científico e humanístico.
Podemos conceder que as intenções sejam meritórias. Mas a questão que vale a pena colocar é de outro tipo. Será que não é esta vontade salvífica de suprimir a distância entre “literatos” e “ignorantes” que justamente cria e cristaliza essa mesma distância? O que é que permite declarar como potencialmente inativo ou ignorante um utilizador de redes sociais, se não a naturalização de que há uma oposição radical entre quem é intelectualmente ativo — isto é, o crítico da ignorância — e quem é intelectualmente passivo — isto é, o ignorante sobre o qual a crítica recai?
Como dirá o filósofo Jacques Rancière, na sua crítica da representação do espectador como um ser passivo, as oposições radicais entre olhar e saber, entre a aparência e a realidade, entre a atividade e a passividade, definem uma partilha do sensível, isto é, uma distribuição a priori das posições e das capacidades e incapacidades ligadas a essas posições. Neste caso, as perspetivas críticas da suposta “nova ignorância” desqualificam intelectualmente os utilizadores das redes sociais porque estes, supostamente, assimilam de forma acrítica a informação a que acedem.
Em oposição a esta condição passiva, teríamos a condição ativa: aquela que é partilhada por todas as pessoas que têm os meios e capacidades intelectuais para fazer uma crítica da ignorância e que, por isso, são seres que agem, pensam, comparam, interpretam e criticam a partir de uma perspetiva lógica e racional.
Esta tese estabelece uma distinção entre quem possui a capacidade de pensar racionalmente e quem dela pode estar privado. Só que, na verdade, ela oculta que os milhões de pessoas que se movem na Internet não estão condenados à passividade: eles observam, comparam, selecionam, criticam e interpretam constantemente a informação a que acedem. O que cria a distância entre supostos “intelectuais” e “ignorantes”, “ativos” e “passivos”, “críticos” e “anestesiados”, é antes de mais nada o impulso salvífico para a supri‑ mir, a partir de uma cristalização apriorística e essencialista de posições, que esquece que o debate se deve centrar no terreno político, e não no aparato tecnológico.
Um outro aspeto que vale a pena assinalar é que a Internet e as redes sociais online alteraram a comunicação na sociedade, permitindo que os grandes e poderosos órgãos de comunicação social institucionais deixassem de ter o monopólio mediático. Essa mudança foi útil por quatro motivos. Primeiro, porque foi possível furar o exclusivismo elitista que reconhecia aos mesmos de sempre o direito à opinião pública e publicada. Quebrando o elitismo, a Internet permitiu uma democratização da produção de informação e uma disseminação do direito à opinião pública, fazendo de cada pessoa e de cada coletivo um potencial produtor de informação plural e diversificada.
Depois, porque a Internet permitiu um aumento da disseminação do conhecimento, ora mais ligado à academia, ora a assuntos, temas e acontecimentos que não tinham qualquer espaço nos media tradicionais. Multiplicando ferramentas de difusão e de partilha de conhecimento, a Internet aumentou o potencial e a diversidade da informação, contribuindo para sociedades mais plurais e informadas.
Esta mudança permitiu, ainda, que se criasse uma cultura crítica dos órgãos de comunicação social, dessacralizando‑os e confrontando as suas narrativas com outras leituras da realidade e dos factos. Isto foi particularmente importante porque, como todos sabemos, a comunicação social institucional não vive (nem nunca viveu) numa torre de marfim, distante das dinâmicas de poder que a circulam e que evidentemente a influenciam. Sabemos que a crítica do jornalismo existente nem sempre é bem‑recebida, sendo os seus críticos frequentemente acusados de censura e ataque à liberdade de imprensa. É geralmente uma acusação preguiçosa, defensiva e corporativa. Quem a profere faria melhor figura se percebesse que a crítica não é sinónimo de ataque ou de insulto, mas sim um instrumento essencial para a democracia e para a reflexão sobre nós próprios, o nosso trabalho e o nosso papel na sociedade.
A quebra do monopólio mediático mostrou que é possível contrariar o facto de só os media institucionais terem a capacidade de hierarquizar a importância política dos temas. O potencial é imenso, se a sociedade conseguir criar uma cultura crítica da Internet e das fontes de informação.
Finalmente, a quebra do monopólio mediático mostrou que é possível contrariar o facto de só os media institucionais terem a capacidade de hierarquizar a importância política dos temas. Hoje é possível introduzir no debate público temas e agendas a que os órgãos de comunicação tradicionais não davam (e muitas vezes ainda não dão) visibilidade e importância. Os cidadãos informam‑se, promovem conhecimento e socializam experiências com mais intensidade. É evidente que tudo isto tem riscos, mas o potencial é imenso, se a sociedade conseguir criar uma cultura crítica da Internet e das fontes de informação.
Vale a pena também lembrar que, apesar de muita informação que circula nas redes sociais online ser questionável e, muitas vezes, factualmente errada, essas plataformas não criaram nada que não existisse já noutras esferas da comunicação. As estratégias de manipulação sempre existiram nos órgãos de comunicação social institucionais e noutros media audiovisuais. Lembremo‑nos, só a título de exemplo, dos trabalhos de Chomsky em torno da propaganda nos media, ou as investigações apuradas de Ignacio Ramonet, onde se desvendam imagens e narrativas escondidas por trás da aparência de programas de televisão, jornais, cinema ou publicidade. A propaganda e a manipulação não foram uma invenção das novas redes sociais online, mesmo que estas as possam reproduzir.
A respeito desta questão, olhemos para o caso português e para a difusão dos mitos políticos concretos que alimentaram muitas das políticas austeritárias e de controlo social, algumas com um forte pendor populista. Lembremo‑nos de expressões comuns, com que todos/as já fomos confrontados: “temos vivido acima das nossas possibilidades”; “o desemprego é uma oportunidade”; “baixar os salários é bom para criar emprego”; “os direitos dos mais velhos estão a bloquear os dos mais novos”; “o rendimento social de inserção é um estímulo à preguiça”; “na escola de antiga‑ mente aprendia‑se melhor”; “os ciganos não se querem integrar”.
Tentou‑se que muitas destas ideias se transformassem em justificações morais para políticas para a austeridade, ao mesmo tempo que se criaram fortes divisões sociais entre as camadas populares, colocando, por exemplo, em oposição os mais velhos e os mais novos, os empregados e os desempregados, lançando‑se a suspeita generalizada sobre os mais pobres e excluídos socialmente, como a comunidade cigana ou quem recebe o rendimento social de inserção.
Se pensarmos bem, nenhuma destas ideias surgiu com a utilização de redes sociais. Esses “mitos do senso comum na era da austeridade”, como lhes chamaram José Soeiro, Miguel Cardina e Nuno Serra, não precisaram nunca de redes sociais para se ampliarem, difundirem e massificarem.
Todos eles foram discursos protagonizados pelo poder político e pelo Estado. Muitas deles foram (e são) reproduzidos e ampliados de forma absolutamente acrítica por parte do poder mediático e de editocratas, que se transformam em caixas de ressonância das narrativas do poder. As redes sociais online não criaram os problemas e os discursos de que o populismo se alimenta. Como dizia Gogol, a culpa não é do espelho se a cara é torta. As redes sociais são o espelho da sociedade, dos seus conflitos, contradições e hegemonias. São, portanto, lugar de lutas.
Tomemos ainda atenção a um outro aspeto importante neste debate. É certo que as redes sociais podem ser usadas para a disseminação das ideias que alimentam o populismo. No entanto, se olharmos com mais rigor, facilmente percebemos que, nos últimos anos, elas também foram um instrumento vital de todas as mobilizações e transformações sociais. O sociólogo Manuel Castells, em Redes de Indignação e Esperança, analisou a relação entre os novos movimentos sociais e a utilização das novas tecnologias, reportando‑se, por exemplo, ao caso tunisino, a primeira das revoluções da Primavera Árabe. Ele mostra‑nos como a existência de uma “cultura de internet” feita de blogues, redes sociais online e ciberativismo foi crucial para derrubar uma ditadura que ninguém antecipava que pudesse cair naquele momento. A conexão entre comunicação sem constrangimentos em espaços online como Facebook, YouTube e Twitter, conjugada com a ocupação do espaço urbano, criou um espaço público híbrido de liberdade que prenunciou os movimentos sociais que floresceram um pouco por todo o mundo.
A forte componente internacionalista que marcou o último grande ciclo de mobilizações sociais e ação coletiva em muito se deve aos fluxos de internet, porque foi por via de fóruns online e de redes sociais que as mobilizações assumiram uma dinâmica de contágio internacional. É certo que muitas das revoltas e revoluções dos últimos anos não se traduziram, depois de uma bonita primavera, em mudanças nos planos político, cultural e económico que muitas pessoas exigiam. Esse aspeto não é propriamente uma novidade na história e haverá muitos fatores que explicam este insucesso. No entanto, aqui apenas se pretende salientar que muitas das mobilizações sociais que ninguém conseguia antecipar ou prever aconteceram justa‑ mente porque tomaram a internet como mais um instrumento de ação, mobilização e contágio internacional.
Olhemos também para o Estado espanhol e para movimentos como a “Juventud Sin Futuro” e o 15‑M, que encheram praças e potenciaram a emergência de novos sujeitos políticos. Num pequeno livro editado por ativistas destes movimentos, faz‑se uma cronologia dos acontecimentos onde se explica o papel determinante que as redes sociais online desempenharam.
A Internet proporcionou um espaço de resistência que respondeu à desarticulação de antigas solidariedades sindicais e ao despotismo patronal que impede a ação coletiva nos locais de trabalho. Nada começa e nada acaba na Internet. Mas ela tem sido, sem sombra de dúvida, um importante instrumento de organização e mobilização coletiva.
A primeira ação do coletivo “Juventud Sin Futuro”, a 31 de Maço de 2011, foi simbólica, consistindo na fixação de autocolantes no Banco Santander, na Universidade Complutense, em protesto contra o papel do sistema financeiro na crise. A ação envolveu algumas dezenas de jovens, que nesse dia publicaram um vídeo no YouTube, atingindo as dez mil visualizações em 24 horas. O efeito viral do vídeo cresceu nos dias seguintes e fez com que a manifestação seguinte, a 3 de abril, já envolvesse milhares de jovens, uma adesão que nenhum dos organizadores esperava.
Essa mobilização alargou a base social do que viria a ser a grande manifestação de 15 de maio, nas Portas do Sol, exigindo “Una Democracia Real Ya”, bem como todo o ciclo de ação coletiva que se seguiu. Como escrevem os próprios ativistas, a utilização das novas plataformas de comunicação online foi vital para a difusão e alargamento do movimento, num contexto de alguma indiferença dos media tradicionais. Pela ação determinante das redes sociais, atingiram um número de adesões que os organizadores jamais poderiam antecipar quando conceberam o movimento.
Regressemos a Portugal, para igualmente lembrar o último ciclo de mobilizações sociais, no qual os/as trabalhadores/ras precários/as ganharam um enorme protagonismo político. Para os/as precários/as, o ciberespaço, além de uma ferramenta de comunicação, foi espaço público real, através do qual novos sujeitos mobilizaram novas táticas de ação: petições online, cartas de protesto via e‑mail, manifestos virais, subversão dos símbolos, utilização do videoativismo.
A Internet proporcionou um espaço de resistência que respondeu à desarticulação de antigas solidariedades, nomeadamente sindicais, e ao despotismo patronal que impede a ação coletiva nos locais de trabalho. Olhemos para exemplos de organizações concretas: o grupo FERVE — Fartos d’Estes Recibos Verdes, transformou‑se numa plataforma a partir da qual se fizeram queixas, petições e protestos inéditos, trazendo para debate público o problema dos falsos recibos verdes; a Associação de Combate à Precariedade — Precários Inflexíveis, criou vídeos virais onde se denunciava a precariedade através de múltiplas ações em locais de trabalho e no espaço público; no espaço online “Ganhem Vergonha”, denunciaram‑se falsos estágios; e mesmo a mobilização dos trabalhadores da Saúde 24 começou justamente a partir de denúncias laborais num grupo secreto no Facebook.
Estes são apenas alguns exemplos a que se pode acrescentar a forma como a internet foi vital para movimentos como a Geração à Rasca ou o Que Se Lixe a Troika. Nada começa e nada acaba na Internet. Mas ela tem sido, sem sombra de dúvida, um importante instrumento de organização e mobilização coletiva.
Finalmente, olhemos para o que nos dizem as estatísticas sobre a utilização da internet e das redes sociais no contexto europeu. No recente livro Sociedade em Rede em Portugal. Uma década de transição, de António Firmino da Costa, Gustavo Cardoso, Ana Rita Coelho e André Pereira, podemos facilmente constatar que os utilizadores de internet e de redes sociais online estão entre aqueles que mais assinaram abaixo‑assinados, cartas protesto, reclamações, que participaram em protestos contra a austeridade, que apelaram a manifestações, que criticaram o governo ou que criaram grupos de apoio a causas políticas, sociais, ambientais ou cívicas. Um quarto da população portuguesa soube da manifestação da “Geração à Rasca” e de outros protestos antiausteridade pela internet.
Ao contrário do que alguns parecem sugerir, a internet e as redes sociais online estão longe de ser os grandes instrumentos da “nova ignorância”, capazes de anestesiar a cidadania emergente. São espaços necessariamente contraditórios e conflituais, mas que podem ser importantes instrumentos de comunicação, partilha de conhecimento e mobilização coletiva. Daí que uma política antipopulista não possa naturalizar as redes sociais e o seu papel. Pelo contrário, a estratégia só pode passar por desenvolver uma cultura de utilização crítica da Internet, aproveitando as suas imensas potencialidades em termos de comunicação e informação, ao mesmo que se constroem instrumentos de mitigação dos riscos que lhe estão associados
A ESPETACULARIZAÇÃO DA POLÍTICA E COMO LHE RESISTIR
Tem‑se defendido neste texto que a utilização das novas tecnologias de contacto e comunicação reflete dinâmicas sociais mais vastas. Mas se aqui se salientou que elas estiveram diretamente relacionadas com momentos de resistência à ordem económica e financeira da qual o populismo se alimenta, vale a pena agora inverter o olhar, discutindo a forma como as redes sociais também fazem parte de um processo mais amplo e particularmente nefasto: o processo de espetacularização da política.
Este processo tem, desde logo, quatro características que importa assinalar. Primeiro, exterioriza a política de quem não participa do monopólio dos meios de produção do fenómeno político. Depois, torna‑a transcendente e pertencente a um mundo simbólico distante da e inacessível à maioria das pessoas. Além disso, centraliza o seu exercício em pro‑ fissionais, técnicos e líderes carismáticos. E, finalmente, fecha e circunscreve o território político, que passa a tratar apenas do instantâneo, do caso do dia, do tema da imprensa, da novela do comentador do momento.
Todo este processo faz parte de um jogo hermético a que só acede um conjunto de profissionais que debatem entre si, a partir de uma novilíngua que só eles reconhecem. O que aqui está em causa é uma diferenciação crescente e radical entre o monopólio dos produtores do fenómeno político e a esmagadora maioria das pessoas, remetida ao estatuto de espectadora ou de figurante, numa democracia cerimonial, encenada e mercantilizada. Mas, antes de detalharmos este processo, tomemos em conta duas advertências críticas.
Não se pretende aqui associar a condição de espectador a uma condição de necessária ignorância, passividade, anestesia ou inércia. A esse respeito, retomo a crítica do filósofo Jacques Rancière em O Espectador Emancipado, onde este desenvolve uma importante análise da forma como muitas perspetivas políticas, artísticas e teóricas apresentam uma noção de espetáculo como um lugar de contemplação no qual o espectador é necessariamente remetido a uma condição de passividade — na fórmula de Debord, “quanto mais se contempla, menos se vive”.
O “apolitismo”, que por vezes assume a forma de “antipartidarismo” ou até de “antiparlamentarismo”, pode facilmente ser desviado para todas as formas modernas de autoritarismo. Esse é o terreno social mais fértil para a chegada de um salvador pronto a encarnar, como nenhum outro, o espírito do povo e da pátria maltratados.
O que Rancière argumenta é que a condição de espectador não tem de ser, em si mesma, uma condição passiva que deva ser transformada numa condição ativa. Todos somos espectadores, já que todos aprendemos e ensinamos, agimos e conhecemos, ligando o que vemos àquilo que já vimos, dissemos, fizemos e sonhámos. As inteligências do ator e do espectador, do mestre e do ignorante, do cientista e do trabalhador não‑qualificado, são da mesma ordem: ambas têm capacidade de traduzir signos por outros signos, procedendo por comparações e figuras para comunicar as suas aventuras intelectuais e para compreender aquilo que uma outra inteligência trata de lhe comunicar.
Esta abordagem é importante, porque chama a atenção para o facto de a condição de espectador não ser uma necessária condição de ignorância. Ainda assim, é indispensável distinguir uma segunda advertência crítica. É que, independentemente de não se tomar o lugar do espectador como um lugar passivo, há efetivamente uma estratégia de poder que procura organizar o campo político a partir da condição de passividade a que se procura remeter quem não participa do monopólio de produção do fenómeno político. O campo político, para manter o monopólio dos seus profissionais, precisa de desenvolver formas, mecanismos e processos de separação, que inevitavelmente procuram conduzir quem lhe é exterior a um estatuto de contemplação e de inércia.
Esta estratégia de poder, consciente ou inconsciente, tácita ou declarada, faz com que, para a maioria dos cidadãos, pareça só restar uma de duas alternativas políticas: ou a demissão do processo político, por via da abstenção, ou o desapossamento, por via da delegação incondicional do exercício político.
Na verdade, a concentração do capital político nas mãos de grupos cada vez mais restritos é tanto mais eficaz e menos contrariada quanto maior a privação material e cultural necessária à participação política, tal como ela se encontra organizada institucionalmente. Dito de outra forma, o campo político tende a tornar‑se um lugar de acesso exclusivo a três grupos sociais: aos profissionais do fenómeno político; às pessoas que possuem as competências técnicas necessárias para se moverem no mundo da tecnocratização da política; e final‑ mente quem tem recursos económicos e/ou tempo livre para se adaptar ao tempo autocentrado que é próprio do ritmo político.
É por isso que o sistema funciona em círculo, isto é, a delegação total através da qual os mais desfavorecidos concedem o direito da sua representação, abre o caminho a que lhes sejam vedados os mecanismos e os instrumentos de controlo sobre o aparelho político. A esse problema se referia Gramsci quando assinalava que um dos aspetos perigosos da sua organização partidária era o facto de haver uma esterilização de toda a atividade individual, uma passividade das massas, na certeza de que havia sempre alguém que pensava e previa tudo. Assim, a organização e a pessoa do organizador tornam‑se uma e a mesma coisa. O “apolitismo”, que por vezes assume a forma de “antipartidarismo” ou até de “antiparlamentarismo”, pode facilmente ser desviado para todas as formas modernas de autoritarismo.
O processo de espetacularização tem colonizado a própria ideia de política, transformando‑a num terreno amorfo que desiste de pensar para lá do imediato, que fecha o campo político e que contamina as possibilidades de participação política. Esse é o terreno social mais fértil para a chegada de um salvador, qual deus ex‑machina, qual messias, herói ou anti‑herói, pronto a encarnar, como nenhum outro, o espírito da nação, do povo e da pátria maltratada. Make America great again, diz Trump. Em nome do povo, diz Le Pen. We want our country back, diz Farage. A Hungria em fortalecimento, diz Órban. Itália primeiro, grita Salvini. O populismo contemporâneo é causa e consequência de um sentimento, partilhado pela grande maioria, de que a política é um mundo longínquo e estranho, vedado e exclusivo, que nada tem que ver com a sua vida.
A política do espetáculo é a política da pessoalização e da personalização absoluta. Tudo depende do protagonista que encarna, em si mesmo, toda a política possível. Exatamente como num filme, em que o que é avaliado já não é a narrativa global proposta, mas sim a capacidade dessa narrativa favorecer, ou não, a imagem do ator principal. Os líderes políticos tornam‑se escultores, só que eles mesmos são a sua própria obra. Para se apresentarem, munem‑se de profissionais de todo o tipo: da comunicação ao marketing, da imagem ou discurso, da cenografia à performance. Todas as técnicas próprias do espetáculo são mobilizadas para o terreno político. Com esses profissionais passam a maior parte do tempo e com eles moldam a imagem de si: “Assessor meu, assessor meu, há alguém mais carismático do que eu?”.
Esta política preocupa‑se com tudo o que a faça parecer moderna. Junta gente para definir os hashtags e os vídeos em direto do Facebook. Mobiliza especialistas em soundbites. Trabalha diariamente no spin para a imprensa. Tem sempre na cabeça o número do dia, o sentido das câmaras de televisão, as sondagens de popularidade, o share, o número de visualizações dos posts, o número de gostos nas redes sociais. Pensa criteriosamente cada sala onde se fazem as intervenções públicas: as cores, o cenário, a música, as entradas, a criação da expectativa no público.

Os profissionais do espetáculo político preocupam‑se com quase tudo, menos com a política democrática, se a entendermos enquanto exercício emancipatório, individual e coletivo, através do qual uma comunidade política se constitui, a partir de interesses comuns, para discutir e tomar decisões coletivas sobre toda a vida que lhe diz diretamente respeito.
Esta espetacularização da política transforma as reuniões em pró‑formas, os congressos em grandes rituais de aclamação que já não dispensam um Carnaval de pirotecnia e numerosas equipas de dramaturgia. Já nem é preciso, na verdade, o protagonista estar presente fisicamente, podendo simplesmente ser substituído por um holograma. O espetáculo político transforma‑se num momento único onde, no palco, o protagonista é o one man show, o qual, quando sai à rua, se transfigura num selfie‑man show, sempre disponível para mais um beijo e um abraço a um “popular”, especialmente se houver uma câmara de televisão ou uma máquina fotográfica perto da cena.
Toda a organização se concentra na lógica mediática, enquanto a maioria das pessoas ora é remetida para a condição de espectadora da performance pública, ora se transforma em mera figurante que, atrás e à frente do palco, faz um bom plano para as câmaras. Será que alguém assistiria a comícios e sessões públicas sentado atrás dos intervenientes que falam, se não fosse apenas para construir uma boa imagem para as câmaras de televisão? No mercado do espetáculo, toda a política é uma marca comercial, tudo se vende no mercado eleitoral. Em suma, tudo é uma imagem.
O resultado deste processo está muito longe de aproximar as pessoas do processo político. Tem o efeito diametralmente oposto. É por isso que nunca no período democrático foi tão notória a distância entre eleitos e eleitores, representantes e representados, mandantes e mandatários. Ao ponto de hoje, para a maioria das pessoas, a política já só ser aquilo que os políticos fazem.
O espetáculo pode parecer excitante, mas as suas consequências são trágicas. Em Portugal, das 68,2 por cento de pessoas que votavam em eleições legislativas em 1991, passa‑ mos para cerca de 55 por cento em 2015. Na media dos países da União Europeia, quando em 1990 votavam 77,7 por cento para eleger os seus governos, em 2014 já só o fizeram 62,8 por cento. E se olharmos para a única instituição com legitimidade democrática à escala europeia, o Parlamento Europeu, em 1994 votavam 56,7 por cento dos cidadãos europeus, enquanto em 2014 apenas o fizeram 42 por cento, sendo que essa percentagem em Portugal ficou nos parcos 33,84 por cento… Apesar destes níveis decrescentes de participação, quando olhamos para as sedes de campanha, nas noites eleitorais, os partidos festejam entusiasticamente sempre que crescem em termos percentuais. Será que naquelas salas ninguém repara que, mesmo crescendo a nível percentual, há cada vez menos pessoas a reconhecer a legitimidade política dos eleitos?
A crise económica e social que temos vivido é profunda e está longe de ter sido superada. Seguramente, é necessário pensar propostas que, no plano económico e financeiro, contrariem a política da crise. Mas não nos enganemos: há uma autonomia do político na crise que vivemos. Só é possível responder à política da crise respondendo igualmente à crise da política.
A única resposta política que pode ser dada a líderes populistas e delinquentes é substituir a democracia cerimonial do espetáculo por uma democracia de alta intensidade, como condição necessária para reerguer essa urgência do futuro. Para essa tarefa, é preciso comunicar fora do circuito do poder mediático.
A única resposta política que pode ser dada a líderes populistas e delinquentes que atribuem, a si próprios, o poder de encarnar o povo, é reconstruir um protagonismo social que resgate a política do espetáculo e que devolva, a esse mesmo povo, a sua capacidade soberana de decisão. Substituir a democracia cerimonial do espetáculo por uma democracia de alta intensidade é uma condição necessária para reerguer essa urgência do futuro por onde começou este texto. Para essa tarefa, é preciso comunicar fora do circuito do poder mediático. É necessário intervir em todas as esferas, sem o condicionamento do imediatismo. São necessários instrumentos democráticos reais, contra o fechamento do sistema numa lógica de despotismo iluminado, onde os liberais mascarados de “técnicos” substituem a representação política e democrática. É preciso construir programas políticos e de ação pensados e executados coletivamente, a várias escalas, em vez de programas autorais feitos por comissões de especialistas ou comissões de honra que monopolizam o debate a partir do seu poder simbólico.
Resgatar a política e coletivizá‑la é o único futuro que já não mitifica o passado e que ainda não abdicou do presente. É a política que certamente vem de longe, mas que continua a querer ir para longe, porque é daqui e é de agora. Resgatar a ideia da política como acontecimento coletivo que projete uma ideia de futuro é a única forma de mudar a vida e devolver o populismo ao lugar exato onde ele pertence: o caixote do lixo da história.