Doutorada em História Institucional e Política Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É historiadora do período contemporâneo português.
O que foi a PIDE? Funções, poderes e métodos
A ditadura do Estado Novo não foi “branda”. A PIDE foi dúplice e hipócrita: os seus dirigentes e agentes cultivavam a família e os bons costumes enquanto espancavam, impediam de dormir, despiam e humilhavam milhares de homens e mulheres indefesos.
No final de 1933, mais de um ano após António de Oliveira Salazar ser nomeado presidente do Conselho de Ministros, o edifício do Estado Novo foi estabelecido a partir da criação de uma nova Constituição. Além da reorganização da Censura e da criação do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), foi erguida a polícia política, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), a partir de forças policiais existentes na Ditadura Nacional militar, instaurada após o Golpe de 28 de Maio de 1926.
O Estado Novo português não foi caso único de um regime ditatorial anticomunista, antiliberal e antiparlamentar nos anos 20 e 30 do século XX. Enquadrou-se efectivamente num movimento europeu mais lato do qual resultaram, no período entre guerras, diversos regimes de novo tipo: autoritários, fascistas e totalitários. Apesar da especificidade racial do regime nazi, a PVDE compartilhou algumas características com as polícias políticas nazi e fascista na Alemanha e em Itália.
Um primeiro aspecto foi o carácter “preventivo”, no sentido em que elas prendiam administrativamente ante delictum. Em segundo lugar, detinham a mesma competência em matéria de instrução dos processos, além de utilizarem uma vasta rede de informadores e milhares de cúmplices, entre as respectivas populações.
Dependemos de quem nos lê. Contribui aqui.
No entanto, em Portugal, e mesmo se, por vezes, atingiu muitos portugueses, a repressão foi de carácter selectivo, ao ser dirigida principalmente contra os adversários políticos, e, entre estes, contra os chamados reviralhistas, anarco-sindicalistas e, a partir de 1934, sobretudo contra os comunistas.
Enquanto Salazar e Benito Mussolini utilizaram o aparelho político para calar e deter os opositores políticos, mantendo o sistema policial e judicial na dependência da Administração estatal, Adolf Hitler utilizou o aparelho policial e judicial para purificar a Volksgemeinshaft (Comunidade Nacional, onde só cabiam os alemães de “raça pura”) e colocou o sistema de justiça política integralmente sob a tutela da SS.
Por outro lado, o “sistema SS” constituiu, no seio do nacional-socialismo alemão, “um Estado dentro do Estado”. É certo que, embora a polícia política portuguesa não corrigisse ostensivamente as sentenças dadas pelos tribunais plenários, a partir de 1945, a PIDE passou a ter, legalmente, um instrumento que lhe possibilitou prolongar as penas de prisão e manter presos indivíduos mesmo absolvidos: as medidas de segurança.
Além disso, a analogia juris, teoricamente proveniente do Direito nazi, não existia em Portugal, embora, na prática, a figura de “crime contra a segurança do Estado” tornasse punível um vasto leque de dissidências.
Uma grande diferença entre o Portugal salazarista e a Alemanha nazi foi a preocupação com o legalismo: existiu no primeiro caso e não no segundo. Observe-se, porém, que se o regime salazarista se apoiava na “sua legalidade”, também aproveitou os vazios da lei ou interpretou-os à sua maneira.
Por exemplo, o regime e a polícia sempre afirmaram que em Portugal só eram detidos aqueles que atentavam contra a segurança do Estado e que ninguém era preso por causa das suas opiniões.
Isto revelaria, segundo o regime, que era cumprido o art.º 8.º da Constituição, segundo o qual era assegurada a liberdade de pensamento. Na realidade, a discordância em relação ao Estado Novo era suficiente para constar do grupo dos que atentavam contra a sua segurança.
Em Portugal e em Itália, ao considerarem-se os regimes a encarnação da nação institucionalizada, a oposição política era vista como um comportamento desviante e criminoso, punível por ser “antinacional”.
A PVDE, e depois a PIDE, foi um produto nacional ao ter sofrido a influência de polícias anteriores, do período da Ditadura Militar: da Polícia de Informação do Ministério do Interior, da Polícia Internacional Portuguesa, da Polícia de Defesa Polícia e Social.
É certo que a polícia política portuguesa se aproximou da que existiu na Itália fascista, porque ambas permaneceram sob tutela do Ministério do Interior e recrutaram, para seus dirigentes, elementos de polícias anteriores. A polícia política portuguesa distinguiu-se, porém, da italiana, pois todas as polícias na Itália fascista estavam centralizadas numa única Direção-Geral.
Em Portugal, no entanto, mantiveram-se à parte a Polícia de Instrução Criminal (PIC e, depois, PJ, a partir de 1945), tutelada pelo Ministério da Justiça, bem como a PSP, a GNR e a PVDE (depois, PIDE), sob tutela do Ministério do Interior.
Um dos aspectos comuns entre o Estado Novo e o fascismo italiano foi o facto de esses regimes se autoconsiderarem a expressão única e exclusiva da essência da nação. Ressalve-se novamente o caso do nazismo, que nesse aspecto, não se arvorou unicamente como a expressão única da nação, mas, mais do que isso, da “raça ariana” alemã, fosse o que isso fosse. Em Portugal e em Itália, ao considerarem-se os regimes a encarnação da nação institucionalizada, a oposição política era vista como um comportamento desviante e criminoso, punível por ser “antinacional”.
Por exemplo, o comunismo, considerado a quinta coluna da União Soviética em Portugal, era para o Estado Novo salazarista o paradigma do “crime antinacional”. Nesse clima, depois reforçado pela Guerra-Fria (1947-1991), a PIDE e o regime reforçaram a noção de que o Partido Comunista Português (PCP) não era um partido, mas uma “associação” criminosa e subversiva que cometia “crimes contra a segurança interna do Estado”. Por outro lado, na medida em que estaria ao serviço do “estrangeiro” e de uma potência externa, praticava também “crimes contra a segurança externa do Estado”.
Dessa peculiar natureza de um regime como expressão única da nação decorria a função das polícias políticas dessas ditaduras, fossem fascistas ou autoritárias. Eram polícias de defesa político-ideológica, e até social, da ordem única, bem como de perseguição e repressão das dissidências e resistências, e não só de defesa da “manutenção da ordem pública”, como nos regimes liberais.
Eram ainda polícias com poderes tendencialmente discricionários, aptas a lidar “eficazmente” contra os inimigos da “nação”, com a lei adaptada a essa função, ou mesmo sem lei. Constituíam instrumentos da eliminação da recusa do consenso imposto por esses regimes, por intermédio de outros meios – censura, partido único, proibição de liberdade de expressão e associação, organizações de enquadramento, entre outros.
PIDE/DGS, um "Estado dentro do Estado"?
Como se viu, o complexo SS/polícias nazis foi um “Estado dentro do Estado”, mas, em Portugal, a PVDE/PIDE/DGS nunca deixou de responder à tutela e a Salazar. Tal como o director da PVDE/PIDE, capitão Agostinho Lourenço, também o Major Fernando da Silva Pais, chefe da PIDE/DGS a partir de 1962, despachava com o ministro do Interior, mas também, e sobretudo, directamente com o chefe do governo.
Desse facto, bem como do de a PIDE nunca ter tido grandes veleidades de autonomia, nem ter participado em acções contra o regime, pode-se concluir que essa polícia não era um “Estado dentro do Estado”.
É assim mais correcta a ideia de que foi um instrumento central de um regime político oligárquico, longamente assente numa chefia ultracentralizada de um ditador. Isto é, foi uma polícia que sempre defendeu o regime, cujos directores funcionaram como correias de transmissão de Salazar e, embora menos, de Marcello Caetano.
Permanentemente informados pelos directores da PIDE, os chefes do governo conheciam a sua actuação e confiavam nela. A PIDE foi tutelada pelo Ministério do Interior e nunca teve a veleidade de se sobrepor a este, mas também se deve dizer que o mesmo deu a essa polícia grande latitude de poderes e espaço de actuação, ao mesmo tempo que corroborou sempre as suas decisões. Por outro lado, o Ministério do Interior, por vontade de Salazar, nunca esteve nas mãos de elementos fortes do regime.
O Ministério do Interior sempre zelou pela autonomia da PVDE e das suas polícias, tendo existido, episodicamente, alguns conflitos e contradições com o Ministério da Justiça. Também houve alguns problemas entre o Interior e as pastas da Justiça e da Defesa Nacional, por estas últimas quererem deter a exclusividade dos serviços de informações. No entanto, foram sempre e rapidamente atalhados por quem de facto mandava no regime: António de Oliveira Salazar.
Da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a PIDE/DGS só obteve colaboração. De facto, os informadores do aparelho diplomático e consular constituíram uma extensão dos próprios “colaboradores” da polícia no estrangeiro. Ressalve-se, no entanto, que a PIDE/DGS obteve colaborações de toda a administração pública.
A polícia política não deixou, aliás, de retribuir os serviços prestados através do papel crucial que teve no saneamento dessa mesma administração, uma vez que o emprego de um professor, de um médico ou de qualquer outro funcionário público dependia de uma boa informação da PIDE. A colaboração, não isenta de conflitos esporádicos, estendeu-se também às várias polícias do regime.
Com os elementos mais extremistas do regime e da extrema-direita, a PIDE teve um duplo papel de aproveitamento e de vigilância. Esta espalhava-se aos próprios elementos do regime, de forma a detectar indícios de dissidência ou a ficar com meios de chantagem.
A substituição da PVDE pela PIDE
Terminada a II Guerra Mundial, Salazar e o seu regime levaram a cabo mudanças nas instituições do Estado Novo, mas tratou-se sobretudo de nomenclatura. Foram os casos da Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE), que substituiu a anterior PVDE, e dos Tribunais Plenários, que passaram a julgar os casos políticos no lugar dos antigos Tribunais Militares Especiais (TME).
Da sua antecessora, a PIDE conservou a instrução preparatória dos processos respeitantes aos delitos sociais e políticos, além de ficar com a capacidade de determinar, com quase total independência, o regime de prisão preventiva.
A 22 de Outubro, o Decreto-lei n.º 35 046, de criação da PIDE, estipulou que esta era um “organismo autónomo da Polícia Judiciária”, que por sua vez substituiu a anterior Polícia de Instrução Criminal (PIC). Com um quadro próprio de funcionários e agentes, a PIDE tinha competência em matéria administrativa relativa à emigração, passagem das fronteiras terrestres e marítimas e ao regime de permanência e trânsito de estrangeiros em Portugal.
No entanto, cabia-lhe sobretudo lidar com os “crimes contra a segurança interna e externa do Estado” e, por isso, colaborava com as polícias e agências secretas estrangeiras na perseguição a prevaricadores internacionais.
Ao Ministério da Justiça foram entregues, no final do ano de 1945, a colónia penal do Tarrafal/Cabo Verde e o forte de Peniche, prisões até então geridas pela PVDE. No entanto, as cadeias do Aljube, do forte de Caxias e da fortaleza de Angra do Heroísmo permaneceram como cárceres privativos da PIDE.
Para a opinião geral da oposição coeva, a criação da PIDE terá representado apenas uma operação de cosmética, através da qual Salazar se adaptou à nova situação do pós-guerra, após a derrota dos regimes fascista e nazi. Na substância, é verdade que permaneceram elementos da anterior PVDE na PIDE, aspectos essenciais que passaram a estar legislados e especificados na lei.
Um deles foi a ideia de que a polícia devia corrigir as sentenças dos tribunais e a noção de uma polícia “preventiva”, no sentido de prender os habituais “contraventores”, antes que estes passassem ao acto. E, quanto à detenção preventiva, lembre-se que ela era ilimitada e sem prazo até 1945, tornando-se até quase perpétua, em vários casos.
Ora, a lei que criou a PIDE “limitou” a prisão a três meses, passíveis de prorrogação por dois períodos de 45 dias cada, sob proposta da própria polícia política e confirmada pelo Ministério do Interior.
Em suma, se a PVDE era uma polícia secreta com actividade instrutória e poderes administrativos e penais quase sem regulação legal, a partir de 1945 a PIDE passou a órgão autónomo de “polícia judiciária” com funções teoricamente equivalentes à PJ. Só que, aos chefes de brigada e inspectores da PIDE, eram cometidas funções e poderes próprios dos magistrados judiciais na PJ. O que a PVDE tinha em arbítrio, a PVDE reconverteu em lei.
Que poderes tinha a PIDE?
Ao longo dos anos, a PIDE foi reforçando os seus poderes, entre os quais se contaram o recurso à prisão preventiva e à “medida de segurança”. Esta medida podia ser aplicada antes do julgamento ou depois do cumprimento da sentença de prisão imposta pelo tribunal plenário ou pelo director da PIDE. Servia para pôr fora de actividade e neutralizar os presos políticos considerados mais perigosos e não passíveis de regeneração, e foi-se tornando gradualmente uma das principais armas da polícia política.
A vida da PIDE pode dividir-se em quatro períodos entre 1945 e 1974. A primeira fase, entre 1945 e 1953, foi de criação e institucionalização. Nos dois anos que se seguiram a 1945, a PIDE ficou com a possibilidade de aplicar “medidas de segurança, previstas na Constituição para a defesa da sociedade e reabilitação dos delinquentes”, aos condenados por crimes contra a segurança do Estado.
Além disso, o governo passou também a poder fixar residência ou expulsar do país (DL 36 387, de 1 de Julho de 1947). A liberdade condicional era fiscalizada pelo Ministério da Justiça e a medida de segurança não tinha ainda um carácter de detenção, mas passou a tê-lo em 1949, com a criação do Conselho Superior de Polícia (CSP).
O ministro da Justiça, Cavaleiro Ferreira, insurgiu-se nesse ano contra o facto de essas medidas de segurança serem cumpridas em prisões da PIDE e lembrou que, apesar de esta polícia poder propor a prorrogação da pena, a decisão pertencia sempre aos tribunais.
No entanto, se era verdade que a PIDE apenas propunha a aplicação e prorrogação das medidas de segurança e que estas deviam ser aprovadas pelos tribunais, estes raramente tomavam uma opção contrária à da polícia. Resultava assim que, na prática, era esta que “determinava” a sua aplicação.
Quem eram os membros da PIDE?
Ao erguer o seu novo regime, em 1933, António de Oliveira Salazar aproveitou os elementos das Forças Armadas que ocupavam as instituições do período da Ditadura Militar. Foi essa a forma encontrada para apaziguar a estrutura militar e manter a sua coesão em torno do seu regime, aproveitando quadros das anteriores polícias, provenientes, em particular, do Exército, para continuarem a dirigir a PIDE.
De uma PVDE que sofria de amadorismo e indisciplina, onde grassava a corrupção e a violência, o primeiro director da PIDE, Agostinho Lourenço, tentou erigir uma polícia mais profissionalizada.
Mas, se é certo que ela não foi uma vanguarda miliciana, à semelhança das nazis SS, não deixou de ser uma polícia com muitos militares na sua chefia, cuja via de ascensão profissional se fez graças ao Estado Novo e perfeitamente adaptada ao aspecto ideológico central do regime: o anticomunismo e o combate contra o PCP.
A comparação entre a naturalidade dos presos, da qual se falará adiante, e a dos elementos da PIDE, revela uma imagem invertida. Enquanto os presos políticos nasceram mais no Sul, no Litoral e nas grandes cidades portuguesas, os agentes da polícia eram sobretudo naturais do Norte e do Centro rural e interior, bem como de zonas fronteiriças.
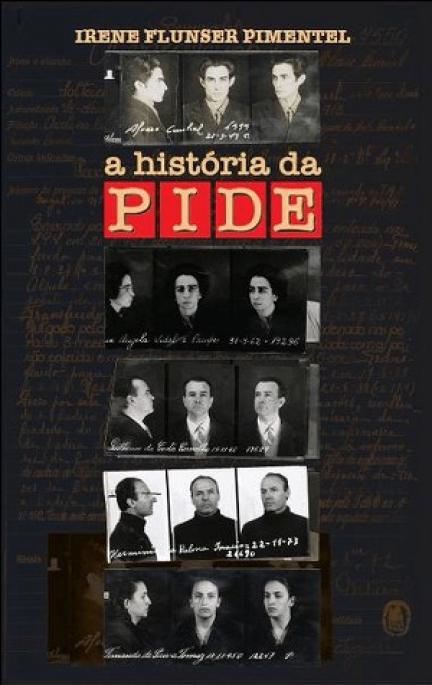
Das regiões com muitos presos políticos, nomeadamente dos microcosmos, com grande militância do PCP, do Alentejo e Ribatejo, provieram poucos elementos, o que era revelador de que em tais (evita repetir “nessa”) zonas o ingresso nessa polícia era mal visto. É certo que nos anos 60, de guerra colonial, alguns portugueses, após cumprirem o serviço militar obrigatório, nomeadamente nas colónias africanas, procuraram emprego na PIDE.
A maioria dos elementos da PIDE/DGS tinha pouca instrução e proveio das classes sociais mais baixas da sociedade: a nível profissional, cerca de 7% veio de forças militares e militarizadas, perto 70% tinha tido profissões subalternas (operários, assalariados, mas sobretudo camponeses, que compuseram 31,86%, ou no comércio e serviços, 33,5%). Entre os elementos da PIDE, pouco mais de 1% tinha licenciatura, frequência de um curso superior civil ou militar, e estes eram os que ocupavam os postos mais altos da corporação.
Os anos trinta e quarenta do século XX foram os que produziram os “melhores” elementos da PVDE e da PIDE em termos de conhecimento do PCP, como revelam os casos dos futuros inspectores Fernando Gouveia, José Gonçalves ou António Rosa Casaco, que ingressaram na PVDE sem grandes habilitações e subiram a pulso e à custa de experiência até escalões mais altos.
No ano de criação da PIDE e nos anos imediatos, também ingressaram, como agentes auxiliares, elementos que viriam a ascender nessa corporação policial: foram os casos de Adelino Tinoco, Porto Duarte, Boim Falcão e Sílvio Mortágua. Outras figuras conhecidas da PIDE e que não entraram pela base da pirâmide, ao terem mais habilitações, foram os chefes de brigada ou mesmo inspetores, como Agostinho Barbieri Cardoso, José Barreto Sacchetti, Cunha Passo e Álvaro Pereira de Carvalho, ou de Manuel da Silva Clara e Ernesto Lopes Ramos.
Quais foram os principais alvos da PIDE?
Entre 1945 e o final dos anos 60, o alvo principal da PIDE foi o PCP e as organizações satélites que eram consideradas como sendo do partido. O ano de 1947 foi, após o de 1945, palco de muita repressão em todo o país e de numerosas prisões de elementos de sectores do PCP.
O aparecimento de organizações frentistas, como o Movimento de Unidade Democrática (MUD), o MUD Juvenil ou o Movimento Nacional Democrático (MND), dirigidas ou não por esse partido, levaram a PIDE a tentar identificá-las como ramificações do PCP ou, pelo menos, a tentar detectar quem eram os comunistas no seio destas organizações.
Nesse período, a PIDE atingiu também outros alvos, nomeadamente militares participantes nas tentativas falhadas de sublevação militar da Mealhada, em 1946, e da “Abrilada”, em 1947. Depois, o ano de 1949 foi novamente desastroso para o PCP, que viu presos muitos dos seus quadros, incluindo elementos do Secretariado, como Álvaro Cunhal e Militão Ribeiro. Estas detenções tiveram a colaboração de outras polícias e do aparelho distrital e local do regime.
Já no início da década de1950, a PIDE continuou a manter a sua habitual vigilância sobre reviralhistas e outros opositores não comunistas e conseguiu desmembrar uma tentativa de conspiração militar, graças a denúncias e à infiltração de um informador. Estes factos revelaram que, apesar de tudo, era o PCP, através dos seus métodos clandestinos, quem conseguia ter alguma eficácia na luta contra a PIDE.
Numa segunda fase, entre 1954 e 1960, a história da PIDE, dirigida pelo capitão António Neves Graça, que tinha, entretanto, substituído Agostinho Lourenço, foi marcada pelo endurecimento repressivo.
Vivia-se, a nível internacional, a Guerra Fria e, a nível interno, os “anos de chumbo” para a oposição ao regime. Nesses anos, em que a oposição ao sistema esteve dividida e o PCP isolado, a PIDE pôde virar-se quase exclusivamente contra este partido, por via de uma repressão endurecida e selectiva.
Não foi por acaso que esse período ficou marcado pelas mortes de Militão Ribeiro e de José Moreira (1950) nas prisões da PIDE, de dois presos na prisão dessa polícia no Porto (1957) e de Raul Alves (1958) na Rua António Maria Cardoso, onde se localizava a sede da polícia política. No seio do PCP, o princípio dessa década foi também marcado por um reforço da disciplina interna, bem como por diversas sanções e expulsões motivadas por divergências ideológicas.
Em 1954 foi criado um quadro da PIDE nas colónias e foram atribuídas funções de juiz aos seus elementos, do director ao chefe de brigada. Diga-se, aliás, que o então ministro da Justiça, Cavaleiro Ferreira, ergueu-se contra a ampliação dos poderes da PIDE e o prolongamento da prisão preventiva, legislados nesse mesmo ano.
Ressalve-se ainda que a PIDE podia, em teoria, prender sem julgamento e controlo judicial até um ano e seis meses, embora na prática não precisasse de recorrer a esse “bónus”. É que soltava os detidos ao fim de 180 dias e, depois, voltava a detê-los por mais 180 dias.
Depois, em 1956, um diploma agravou o regime das medidas de segurança posteriores ao julgamento, permitindo-as por períodos indeterminados de seis meses a três anos, prorrogáveis por três períodos sucessivos de três anos, mesmo nos casos de presos absolvidos.
Uma polícia internacional, nos anos de todas as prisões, a nível interno?
À semelhança do KGB, e a comparação não deixa de ser irónica, a PIDE foi tanto uma polícia política que actuava contra o “inimigo” interno do regime, como uma polícia “internacional” vocacionada para agir contra o inimigo externo. E, por isso, teve a veleidade de se transformar numa verdadeira agência secreta de informações.
Em 1957 a PIDE “internacionalizou-se”, por via de contactos com os serviços secretos dos países europeus da NATO e com a CIA, para integrar a luta anticomunista. Em plena Guerra Fria, a principal preocupação no mundo ocidental era a infiltração comunista, tendo sido a esse nível que a PIDE colaborou também com os serviços secretos espanhóis e franceses, não só relativamente à emigração portuguesa, como aos exilados de Portugal em França.
O facto de a PIDE gerir o gabinete nacional da Interpol permitiu-lhe também ter contactos com diversas polícias a pretexto da luta contra os crimes “comuns”, até porque, como se sabe, as ditaduras não distinguem entre estes e os “crimes” políticos.
Apesar de ter iniciado a “internacionalização da PIDE”, o capitão António Neves Graça, que substituiu, no final dos anos 1950, o capitão Agostinho Lourenço na chefia da PIDE, caiu de certa forma em desgraça. Não conseguiu evitar a extensa agitação social e política em torno de Humberto Delgado e da sua campanha presidencial de 1958, levando mesmo à necessidade da intervenção do Exército, que prontamente acudiu ao regime.
Os últimos anos de Neves Graça à frente da PIDE foram, contraditoriamente ou não, de abundante repressão, atingindo mesmo oposicionistas outrora intocáveis.
Entretanto, no final da década de 1950 surgiram no terreno político novos opositores ao regime e alvos da PIDE, até então silenciosos, entre os quais se contaram alguns católicos “progressistas”, bem como civis e militares que participaram, em 1959, num novo golpe militar, mais uma vez falhado, devido à infiltração da polícia política.
Nos anos de 1958 e 1959, houve a convicção no seio do PCP de que o regime estava por um fio, o que levou a uma consequente quebra da acção conspirativa, possibilitando numerosas prisões. Devido aos múltiplos “desastres”, o PCP pôs “trancas à porta”, tendendo a considerar que, além das traições, as prisões dos seus funcionários se deviam à sua excessiva movimentação.
Em suma, o partido fechou-se sobre si próprio. A clandestinidade, que devia ser um meio contra a ditadura, tornava-se um fim em si mesmo, além de ser também uma faca de dois gumes, na medida em que a PIDE conhecia os métodos do PCP e conseguia aproveitá-los e explorá-los.
Uma polícia de Informações?
Ao chegar-se a 1960, a PIDE conseguira não só perceber o comportamento dos clandestinos como usar alguns efeitos contraditórios, conflituosos e perversos provocados pela clandestinidade. Por exemplo, a vida isolada das funcionárias clandestinas, bem como as relações conjugais e a endogamia do corpo de funcionários.
Quando o coronel Homero de Matos, vindo da GNR, assumiu a direcção da PIDE em 1960, tentou transformá-la numa organização de polícia secreta militarizada, subordinada ao Ministério da Defesa Nacional, que, por sua vez, centralizaria toda a Informação interna e externa do país.
Homero de Matos quis ainda reposicionar a PIDE sob controlo do director, retirando poder aos inspectores e afastando o efectivo vice-director, Agostinho Barbieri Cardoso. Todos esses factores atraíram sobre ele, tal como havia acontecido com Neves Graça, a inimizade do corpo de inspectores, em rivalidade uns com os outros e com o director, para ganhar peso na corporação.
A infiltração de informadores no PCP, resultando em numerosas prisões, fez com que 1961 tivesse sido um ano terrível para os comunistas.
Mas foi também um annus horribilis para o regime e para a PIDE.
Embora a guardiã da ditadura não tivesse conseguido evitar os assaltos ao Santa Maria e a um avião da TAP, sofrendo ainda uma derrota estrondosa com a fuga colectiva de dirigentes comunistas de Caxias, ficou, a partir de então, com um quadro de funcionários mais amplo e passou a ter novas tarefas, de apoio informativo, ao trabalho das Forças Armadas nas frentes da guerra colonial.
Com a substituição de Homero de Matos pelo major Silva Pais na direcção da PIDE, em 1962, foi reforçada a componente informativa desta polícia. Agostinho Barbieri Cardoso, que muitos consideraram como o verdadeiro chefe da polícia política, regressou à PIDE; Álvaro Pereira de Carvalho foi nomeado director dos Serviços de Informação, entretanto reorganizados, e José Barreto Sacchetti ficou a dirigir os Serviços de Investigação.
Foi, assim, de certa forma, Silva Pais quem acabou por cumprir os desideratos de Homero de Matos, ao reformar os Serviços Centrais de Informação e ao tentar transformar a PIDE numa organização de Intelligence, à maneira da CIA, dos franceses Renseignements Généraux e SDECE.
Assim, a polícia política procedeu a um recrutamento bastante activo a partir de 1961, mas sobretudo entre 1964 e 1967, não esquecendo os anos da sua institucionalização (1947-48) e de agitação política (1954 e entre 1958 e 1959). Lembre-se que, entre 1954, quando tinha sido formado um quadro do Ultramar, em 1968, a PIDE passou de 755 para 3202 (1187, na chamada metrópole) funcionários. No período entre 1962 e 1968, a legislação referente à PIDE esteve focada na necessidade de lidar com a guerra colonial e no aumento do número dos seus funcionários.
Nas vagas de recrutamento da década de 1960, muitos dos novos funcionários ingressaram imediatamente como inspectores, uma vez que eram provenientes de outras polícias e das Forças Armadas após cumprimento do serviço militar obrigatório.
Uma polícia eficaz? Os métodos: informadores e tortura
À semelhança de todas as polícias políticas das ditaduras, a PIDE não precisava de ser muito perfeccionista nas tarefas de informação e de investigação. Tinha, desde logo, a sua vida amplamente facilitada pela utilização de uma ampla rede de informadores, pagos ou não, controlados pelos serviços de Informação, montados e chefiados por Álvaro Pereira de Carvalho, entre 1962 e 1974.
Além disso, contava com a colaboração das outras polícias, das Forças Armadas, da Legião Portuguesa e de todas as estruturas do regime e seu aparelho distrital e local.
Como noutros regimes ditatoriais, a polícia política portuguesa contou ainda com o apoio voluntário ou involuntário das populações, isto num país pequeno onde um clandestino tinha grande dificuldade em passar despercebido.
Curiosamente, havia mais candidatos a informador da PIDE do que aqueles que a polícia recrutava.
O facto de muitos anónimos escreverem recorrentemente ao Ministério do Interior e à PIDE a oferecerem os seus serviços é revelador de que existia, no seio da população portuguesa, e não apenas nas classes mais baixas, uma ampla e espalhada cultura de denúncia.
Esta não se devia essencialmente a razões ideológicas, mas resultava de interesses mesquinhos, como a inveja, rivalidades ou vontade de exercer um pequeno poder no seio de um determinado microcosmo.
O certo é que a PIDE/DGS teve uma certa eficácia na forma como colocou, próximo de algumas individualidades não comunistas e no seio de organismos frentistas, tanto em Portugal como no exílio, informadores “especializados” em sectores menos habituados às regras conspirativas.
A ampla rede de informadores, cuja quantidade era, aliás, exagerada de forma indirecta pela própria polícia, contribuiu para espalhar o medo nos portugueses, convencendo-os que os olhos “pan-ópticos” da PIDE os vigiavam por todo o lado e que meio país denunciava outro meio país.
O fenómeno do excesso das denúncias chegou mesmo a preocupar o Governo, nomeadamente os ministros do Interior, Trigo de Negreiros, nos anos 1950, e Gonçalves Rapazote, em 1971. Estavam receosos das consequências que isso poderia trazer ao apregoado corporativismo do regime.
Curiosamente, havia mais candidatos a informador da PIDE do que aqueles que a polícia recrutava.
Embora pouco satisfeita com o facto de outras organizações do regime, como a Legião Portuguesa, terem as suas próprias redes de informadores (até porque os considerava poucos eficazes) a polícia política não deixou de os utilizar. Apesar de a origem e classe social da maioria dos seus informadores ser baixa, a PIDE/DGS não deixou de ter alguns provenientes de classes sociais altas: oficiais militares, indivíduos de profissões liberais e elementos do regime, entre os quais se contaram presidentes de autarquias.
Além de utilizar os informadores, a PIDE/DGS também pôde recorrer a outros meios, sem qualquer fiscalização: a intercepção postal e as escutas telefónicas, os quais foram também, aliás, usados contra elementos do próprio regime, para impedir dissensões ou como instrumentos de chantagem.
Estes dois instrumentos, cuja capacidade foi muito exagerada, tanto pela PIDE como pelos opositores do regime, acabaram por ter, tal como a existência de informadores, o mesmo efeito dissuasor, ao darem uma imagem de omnipotência e omnisciência à polícia política.
A PIDE prendia frequentemente para depois “investigar”, e não após vigiar e inquirir. Enquanto métodos de “investigação” e de instrução dos processos, utilizava a violência nos chamados interrogatórios “contínuos” – eufemismo para o “sono”, a “estátua” e os espancamentos – na sede da PIDE, ou, mais tarde, no reduto sul de Caxias.
Em Portugal, além dos espancamentos, foi sobretudo utilizada a tortura “científica” da privação, em parte aprendida com a CIA. No entanto, desde os seus primórdios que, tanto a PVDE como a PIDE praticaram, de forma empírica, a privação de movimento, ou “estátua”, a privação de dormir, ou tortura do “sono” e a privação de contactos com o exterior, ou isolamento.
Estas “modalidades” de tortura, reveladoras de que a polícia tinha todo o tempo do mundo, foram a negação do próprio argumento de que os “safanões a tempo” eram dados para salvar inocentes de actos “terroristas”, conforme tinha dito Salazar em 1932.
Através da tortura, em qualquer latitude e época, o carrasco tenta quebrar a dignidade e a autonomia do preso, dando ao torturado a sensação – real – de estar à sua total mercê e actualiza, desde logo, todas as outras violências que se seguirão. O fim último da tortura é, além de provocar o abandono total da vontade da pessoa, a destruição física, psíquica e moral do preso, possibilitada pelo domínio totalitário do carrasco sobre ele.
O torturador condiciona a capacidade de pensar e a própria dignidade de ser humano do preso. Tenta destruir as causas e convicções da vítima, os seus sonhos e esperanças, os seus segredos e a sua opacidade, fundamentais na criação de uma identidade e na constituição dos grupos humanos.
O objectivo não era somente obter informações. Ao “fazer falar” o preso, a PIDE pretendia torná-lo transparente, dissolvido e isolado do seu grupo de pertença – os seus camaradas de partido –, bem como obrigá-lo a agir contra si próprio e contra os seus valores, para o destruir no seu interior.
Além de “fazer falar”, a tortura pretende também levar a que o torturado oiça a voz do poder e perceba que está nas suas mãos. Por isso, a tortura também serve para “fazer calar”, ao constituir um aviso destinado a silenciar toda a oposição.
No Estado Novo, a utilização da tortura foi negada, em nome da sua incompatibilidade, num país de brandos costumes, com a civilização cristã, que moldava a Constituição Portuguesa através da moral da lei. Mas a ameaça da sua existência permaneceu sempre no “ar”, enquanto instrumento utilizado para aterrorizar e desmobilizar, através do simples rumor da existência de violência.
Nesse sentido, embora utilizando a técnica do eufemismo para se referir às torturas, a PIDE não deixou de fazer constar que elas existiam, para travar veleidades de prevaricação “subversiva”.
O que normalmente acontecia nos interrogatórios da PIDE era que, depois de um primeiro auto em que não prestavam declarações, os presos ficavam em “interrogatório contínuo”, eufemismo para o “sono”, a “estátua” e os espancamentos. Os autos seguintes eram feitos depois e, se o detido não “falasse”, começava então o longo isolamento, até ser novamente chamado. No isolamento e na incomunicabilidade, referidos pelos prisioneiros como mais duros de suportar do que a violência física, tudo se torna rotina e desaparece o inesperado, retirando ao preso toda a noção da sua autonomia. Perde-se a noção de tempo.
A PIDE recorreu também à calúnia, não só relativamente aos indivíduos, mas também ao PCP, definindo-o como uma associação de malfeitores. Por vezes, certos insultos foram mais difíceis de suportar do que a pancada: Diniz Miranda sentiu-se particularmente humilhado quando a polícia lhe disse que iria ser condenado como vadio, uma vez que, sendo funcionário do PCP, não tinha profissão.
Por diversas vezes, os torturadores simularam o fuzilamento, mas no continente europeu, onde se situava a “metrópole” portuguesa, ao contrário do que acontecia na guerra colonial em África, a PIDE não estava interessada em matar. O preso político comunista Octávio Pato confirmou que não era a morte do preso que a PIDE queria, mas a sua neutralização por via de uma longa prisão.
Relativamente aos casos de morte, que mesmo assim sobrevieram, o argumento da PIDE/DGS foi invariavelmente o de que os detidos em causa se tinham suicidado. José Moreira (1950) e Raul Alves (1958) “caíram” de uma janela do 3.ª andar da sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso, e Joaquim Lemos de Oliveira e Manuel da Silva Fiúza Júnior morreram por “enforcamento” em condições muito semelhantes. Ambos morreram com poucos dias de diferença, quando os dois presos estavam isolados e sem qualquer contacto um com o outro.
Houve também assassinatos na rua, directamente cometidos pela PIDE, nos casos de Alfredo Dinis (1945), de José Dias Coelho (1961) e, evidentemente, de Humberto Delgado (1965).
Assim como a ditadura de Oliveira Salazar e de Marcelo Caetano não foi “branda”, tal como ela queria fazer crer, a PIDE/DEGS também não o foi.
Esta polícia foi, sim, dúplice e hipócrita: os seus dirigentes cultivavam a família e os bons costumes, ao mesmo tempo que espancavam homens e mulheres indefesos que submetiam à “estátua” e ao “sono”, despiam e humilhavam, dizendo depois que eram estes e estas que não tinham “moral”. Depois, negavam que torturavam, afirmando, como o fez o perfumado Sacchetti, que tinham uma impecável formação católica.
Há que ter em conta que o tratamento da PIDE foi diverso conforme a classe social e a organização a que o preso político pertencia. Amante das hierarquias e respeitadora das elites, a PIDE enviava o intelectual para a tortura do “sono”, continuando, porém, a tratá-lo por “sr. Dr.”. Ao mesmo tempo, ao operário ou ao assalariado rural, mais do que persegui-los pelas suas actividades políticas, punia-os brutalmente por ousarem sequer pensar que lhes era permitido mudar de vida e desafiar a ordem imutável e inquestionável.
Detenções massivas ou selectivas?
A PIDE ocupou-se precisamente dos “três núcleos sociais mais baixos e nucleados da sociedade portuguesa”, conforme a definição de Hermínio Martins. Ou seja, o grupo constituído pelos pequenos proprietários rurais do norte e centro, com mecanismos compensatórios para escapar à miséria via emigração; os assalariados rurais dos latifúndios do sul; e os operários das grandes concentrações industriais, com maior militância política e que foram os principais alvos da repressão.
Do ponto de vista da profissão e classe social, mais de 60% de todos os presos pela PIDE/DGS eram trabalhadores manuais indiferenciados das cidades e do campo, enquanto quase 20% pertenciam aos sectores do Comércio e dos Serviços e cerca de 11% eram membros das profissões liberais, estudantes ou profissionais de alto estatuto social, ou seja, da classe média e até alta. Se a estes últimos se juntarem os negociantes e comerciantes, a percentagem quase que atinge os 20%.
Ao “fazer falar” o preso, a PIDE pretendia torná-lo transparente, dissolvido e isolado do seu grupo de pertença, os seus camaradas de partido.
Por outro lado, 42,4%, dos presos políticos eram naturais e/ou viviam no Algarve, Alentejo, Margem Sul do Tejo e em Lisboa e arredores. O centro do país “contribuiu” com 17,2% dos presos por motivos políticos ou emigração clandestina, nomeadamente nas regiões fronteiriças, enquanto o litoral do centro e do norte industrializados ‘forneceu’ 22,6% dos presos. De Trás-os-Montes apenas provieram 4% dos detidos, a maioria por emigração clandestina.
A repressão da PIDE/DGS foi selectiva, verificando-se que entre 1945 e 1974, num universo de cerca de 15.000 detidos, houve uma média de cerca de 400 detenções anuais de carácter político. Existiram, no entanto, alguns períodos marcados por “picos” de detenções mais acentuados, nomeadamente entre 1946 e 1954, nos anos de 1958 e 1959 e entre 1961 e 1964.
Em 1973, a Direção-Geral de Segurança (DGS) procedeu, na chamada metrópole, a 561 detenções políticas. Dessa forma, houve um aumento de detenções no final do regime, porque, no estertor, a repressão endureceu, como reação ao aumento de número e diversidade de adversários políticos da ditadura.
Nesse período, a DGS já não tinha de lidar apenas com o PCP mas com inúmeras outras organizações de luta armada e de extrema-esquerda. E não só: a oposição à guerra alastrou-se, passando a incluir indivíduos dos mais diversos sectores sociais, como católicos e estudantes.
Para que serviam as prisões políticas em Portugal?
Em Portugal a detenção política combinou três lógicas: a de afirmação da autoridade; a de carácter correctivo; e, finalmente, a de neutralização.
A primeira lógica, com carácter dissuasivo, preventivo e de intimidação, era utilizada contra a população em geral, sobre a qual pairava a ameaça do que lhe poderia acontecer, caso se “metesse em política”. Por isso, as detenções e julgamentos eram noticiados oficiosamente na imprensa.
A segunda lógica era reservada aos que tinham sido “momentaneamente transviados” e, através do “susto” da prisão preventiva e correccional, ficariam vacinados para não voltarem a ter a ousadia de actuar contra o regime.
Num universo estudado de cerca de sete mil presos, a larga maioria (95,7%) permaneceu detida somente nos seis meses da prisão preventiva, enquanto apenas 15% foram levados a julgamento e cerca de 23% dos indivíduos julgados foram absolvidos, amnistiados, soltos ou simplesmente condenados a multas. Por outro lado, num universo de cerca de quatro mil presos julgados, cerca de 20% foram condenados a penas de prisão correccional com duração até um ano e seis meses.
Finalmente, a terceira lógica, a de neutralização. Através da prisão maior (pena de reclusão que vai além dos dois anos) e das medidas de segurança, o propósito deste método era retirar do espaço público os dirigentes e funcionários dos partidos subversivos: os comunistas, os de extrema-esquerda e os que faziam parte de organizações de luta armada. Cerca de 5,5% dos presos foram condenados a penas de dois anos de prisão maior e, nesse caso, apenas era contada metade do tempo de detenção preventiva cumprida, além de lhes ser habitualmente acrescida uma medida de segurança.
Num universo de 12.385 presos, pouco mais de 4% dos detidos foram condenados a medidas de segurança, mas, entre estes, mais de 90% cumpriram entre um e três anos de cadeia a mais, relativamente ao tempo a que haviam sido condenados por sentença judicial.
A PIDE/DGS também usou e abusou da prisão preventiva, excedendo o seu prazo legal de seis meses. Por exemplo, num universo estudado de cerca de 1.800 presos, apenas cerca de 15% foram julgados dentro desse prazo e houve mesmo alguns que esperaram na cadeia mais de quatro anos até serem levados a julgamento.
O facto de, em Portugal, as penas não serem de longa duração, como sempre foi apregoado pelo regime, não deve fazer esquecer que muitos detidos políticos acabaram por ficar muito tempo atrás das grades devido às medidas de segurança.
A PIDE nos anos 60 e 70. “Primavera caetanista” na repressão?
Nos anos 1960, de agitação estudantil e social, a repressão continuou a abater-se sobre o PCP. O partido perdeu, neutralizados nas cadeias, muitos militantes, desde operários e assalariados rurais, a estudantes e intelectuais que haviam ingressado no activismo de oposição ao regime. O poder ficou, aliás, bastante preocupado com o facto de se deparar com tantos estudantes e intelectuais, que, ao invés de se constituírem como a elite do Estado Novo, optaram por actuar directamente contra ele.
Mais difíceis ainda, em termos de repressão, foram os anos de 1963 e 1965, durante os quais o sector estudantil e o organismo intelectual do PCP de Lisboa foram desmantelados, devido a traições dos funcionários comunistas. O ano de 1965 foi muito duro, não só porque foi aquele em que a PIDE assassinou Humberto Delgado e Arajaryr Campos, mas também por se ter assistido ao aumento da violência nos interrogatórios.
No “marcelismo” foi surpreendente a diversificação e aumento das actividades da oposição, contra as quais a DGS teve dificuldade em responder, recorrendo a uma repressão e violência redobradas.
No quarto período da vida da polícia política, correspondente à época em que Marcello Caetano foi presidente do Conselho, a PIDE foi substituída, em 1969, pela Direcção Geral de Segurança (DGS) – foi depois reorganizada em 1972. Continuou, porém, com os mesmos poderes da sua antecessora, além de que foi então finalmente consagrada a dispensa de publicação no Diário do Governo e nos boletins oficiais dos despachos relativos à nomeação do pessoal da DGS. No entanto, o prazo da prisão preventiva passou a ser mais curto, ficando esta polícia com três meses para instruir os processos.
Na chamada metrópole, a prisão preventiva começou a contar por inteiro nas penas de prisão e a grande novidade, nesse ano de 1972, foi a abolição das medidas de segurança de internamento para os “delinquentes políticos”. Algo que nunca foi conseguido, mesmo durante a chamada “primavera marcelista”, foi a reivindicação, amplamente apresentada, por uma parte da opinião pública, de uma norma que, a ser aplicada, teria modificado completamente os poderes da DGS: a assistência dos advogados aos interrogatórios, que, no final do regime, passou a acontecer nos casos instruídos pela PJ.
Como muito bem percebeu a DGS, se isso acontecesse, ficaria sem a sua principal arma – a utilização da tortura na “investigação” – e, por isso, pressionou com eficácia Marcello Caetano no sentido de não atender a esses apelos.
No “marcelismo” foi surpreendente a diversificação e aumento das actividades da oposição, contra as quais a DGS teve dificuldade em responder, embora recorrendo a uma repressão e violência redobradas e já não tendo de lidar com a emigração, nem com, por exemplo, associações como as Testemunhas de Jeová. No final da sua vida, a DGS tinha, no entanto, de vigiar as eleições para as direcções dos sindicatos, bem como as associações, colectividades e cooperativas, que eram outros tantos locais de luta contra a ditadura.
Os estudantes e as suas associações foram também gradualmente tidos em conta pela PIDE/DGS, sobretudo a partir de 1969, quando, mais politizados, se foram erguendo crescentemente contra a ditadura e a guerra colonial. Os operários das grandes empresas industriais dos maiores centros urbanos, onde a contiguidade das empresas provocava efeitos de contágio nas lutas laborais, foram também alvos prioritários da DGS, que tentou fazer um trabalho “científico” de prevenção das greves.
Terá o regime ditatorial perdurado graças à sua polícia política?
Sim e não. A PIDE/DGS ajudou o regime a manter-se, assim como outros dos seus grandes pilares – a Igreja e sobretudo as Forças Armadas. Lembre-se que foram estas que asseguraram a continuidade do regime em 1958, durante o “terramoto delgadista”, e, depois, em todo o período da guerra colonial.
Mas o regime ditatorial também perdurou por ter conseguido uma “organização do consenso”, através de sistemas de desmobilização cívica, bem como de instrumentos como o aparelho corporativo e as organizações de enquadramento de estratos da população.
Por outro lado, a ditadura de Salazar e depois de Caetano contou com outras polícias e com o aparelho administrativo central e local, mas também com o eficaz aparelho de Censura, que recusava o conflito e a pluralidade de opiniões. Beneficiou ainda do sistemático “saneamento” de uma função pública que era o grande fornecedor de empregos em Portugal, e da qual estavam arredados todos os que entravam em dissidência com o regime. Censura e sistema de “saneamento” político com os quais a PIDE/DGS sempre colaborou e se constituiu como um importante instrumento.
A queda da ditadura veio de um sector do qual a DGS não estava à espera, ou não antecipou o real perigo: do seio de uma parte das Forças Armadas, com as quais a polícia política colaborava nos teatros de guerra.
A PIDE/DGS foi o último factor desses meios de intimidação, desmobilização e repressão. Reprimia e neutralizava selectivamente os poucos que lutavam contra o Estado Novo e espalhava o medo, com a ameaça do que podia acontecer aos que entravam em dissidência. Difundiu também, com alguma eficácia, a ideia de que era omnipotente e omnipresente, que via e ouvia tudo, através de uma enorme rede de informadores e uma cultura de denúncia.
Lembre-se que, se houve alguns espaços de dissidência e resistência, a população portuguesa, no seu conjunto, permaneceu apática e passiva, a “viver naturalmente”, como pretendia Salazar. E para isso contribuiu a PIDE/DGS, ao manter uma sociedade com horror ao confronto, marcada pelo anónimo informador e ameaçada com o que poderia acontecer ao dissidente e resistente.
Em suma, pode-se dizer que a durabilidade do regime se deveu a uma combinação de dois factores decisivos: por um lado, o sucesso da desmobilização/intimidação cívica/repressão, através de vários instrumentos, entre os quais a importante PIDE/DGS; e, por outro lado, o facto de o regime ditatorial, nos momentos de crise – 1945 e 1958-1961 – ter conseguido manter a coesão das Forças Armadas em seu redor.
O estertor do regime foi, como se viu, acompanhado por uma maior repressão e um aumento da violência policial, coincidindo com a multiplicação dos problemas por si enfrentados. Portugal parecia então uma “panela de pressão” pronta a explodir por si própria, ou com ajuda.
Esta surgiu, mas vinda de um sector do qual a DGS, aparentemente, não estava à espera, ou não antecipou o real perigo: do seio de uma parte das Forças Armadas, com as quais a DGS colaborava nos teatros de guerra.
Com algum êxito, a PIDE/DGS conseguiu travar as oposições, que por si só se revelaram incapazes de derrubar o regime ditatorial, mas nunca as neutralizou definitivamente. Estas oposições foram, porém, indispensáveis para que as Forças Armadas derrubassem o regime com êxito, a 25 de Abril de 1974. Reticente em vigiá-los ou convencida que iria sobreviver, a DGS não conseguiu impedir a saída de militares em tanques para as ruas de Lisboa.
A autora escreve de acordo com o antigo acordo ortográfico
